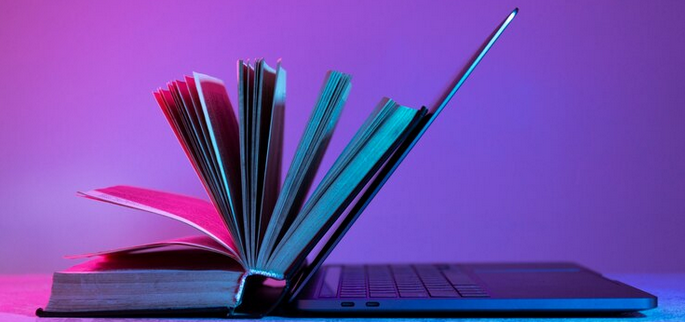Prof.ª Dr.ª Greicy Pinto Bellin*
Em “Pai contra mãe”, escrito em 1906, Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras e um dos mais importantes escritores brasileiros, retrata a difícil situação das classes desfavorecidas no século XIX, marcado pelo auge do imperialismo britânico e por seu principal efeito na economia brasileira oitocentista: a escravidão. A cessação do tráfico negreiro por pressões inglesas no ano de 1850, expressa na famosa lei Eusébio de Queirós, fez surgir uma verdadeira anomalia no mercado brasileiro de profissões destinadas ao que Maria Sylvia de Carvalho Franco, em estudo relevante publicado em 1969, chamou de “homens livres na ordem escravocrata”. Trata-se do capitão-do-mato urbano, que retirava seu sustento da captura de escravos fugidos em troca de gratificações que nem de longe conseguiam substituir um salário regular, dada a irregularidade e extrema flexibilidade da ocupação.
Cândido Neves, o
protagonista de “Pai contra mãe”, tinha, na visão do narrador machadiano, um
defeito grave: o caiporismo, denominação que emerge da mitologia popular
indígena para qualificar o homem avesso às obrigações do trabalho ou, melhor
dizendo, o “malandro”, conforme expresso por Antonio Candido em outro célebre
ensaio, “Dialética da malandragem”. A narrativa machadiana torna claras as
diferenças entre a ordem escravocrata brasileira, marcada pelo “jeitinho” e por
demais arranjos que objetivavam liberar o homem das obrigações trabalhistas
impostas pela hegemonia do capital britânico, e a sociedade norte-americana,
que Candido percebia, não sem razão, como uma “sociedade moral” onde a religião
protestante não admitia o relativismo ético. Apenas a sociedade brasileira
poderia comportar a existência de um indivíduo como Cândido Neves ou Candinho,
como é chamado no decorrer da narrativa. Tendo perdido o ofício de entalhador e
se casado com a ingênua Clara, sofre a pressão de tia Mônica para arrumar um
“trabalho certo”. O único que lhe apetece é o de caçador de escravos, que não o
obriga a “ficar horas sentado” e lhe permite conversar horas na esquina até perceber
a presença de sua vítima. Torna-se um óbvio ululante afirmar que Machado de
Assis estava lançando mão desta representação para criticar o jeitinho
brasileiro, bem como a falta de perspectivas de um homem ainda jovem e com
força produtiva, mas que se vê impelido ao que Nicolau Sevcenko, em Literatura como Missão, chamou de
“vagabundagem delituosa”, tendo em vista que a profissão de Cândido implicava
em uma violência extrema contra os escravos. Tratava-se, por outro lado, de uma
violência legitimada pelo poder senhorial, à qual Cândido recorre para afirmar
um poder que não existe e que, ao fim e a cabo, apenas corrobora a sua
inferioridade como homem branco e livre inserido em uma ordem escravocrata.
O problema maior aparece
quando Cândido descobre que sua esposa está grávida, o que ocorre
concomitantemente ao surgimento de “mãos mais fortes e ágeis” para realizar o
seu trabalho. Em uma narrativa vertiginosamente cruel, que mistura o grotesco à
desconstrução da idealização da pobreza, o narrador machadiano nos faz assistir
cada passo da derrocada material de Cândido e sua família, desde o aparecimento
do credor que ameaça o despejo até a constatação, por parte de tia Mônica, de
que o filho do casal teria de ser entregue à Roda dos Enjeitados, instrumento
criado com a finalidade de sanar os problemas de aborto e infanticídio
decorrentes da promiscuidade sexual no Brasil do século XIX. O nascimento da
criança em meio à penúria acaba por conduzir Cândido a entregar a criança,
atitude para a qual ele vê possibilidade de salvação ao identificar, na Rua da
Ajuda, a escrava fugida de nome Arminda, cuja captura lhe daria os cem mil-réis
que resolveria, pelo menos temporariamente, a situação financeira lastimável de
sua família. Um contundente paradoxo se instala quando Cândido, ao capturar a
escrava, percebe que ela está grávida. Arminda tenta barganhar sua captura se
oferecendo para ser escrava de Cândido, ao que ele obviamente nega, devido à
necessidade premente pelo dinheiro. Ao lançar mão de sua condição de gestante
para implorar a compaixão do caçador de escravos, Arminda escuta algo que
poderia se aplicar ao próprio Cândido: “Quem lhe mandou fazer filhos e fugir
depois?” (ASSIS, 2008, p. 638). O conto se encerra com a entrega da escrava a
seu dono, acompanhado pelo pagamento da gratificação e pelo grotesco aborto no
meio da rua, o que ratifica a existência de uma ordem social baseada no que o
próprio Machado chamou de struggle for
life, isto é, a luta pela sobrevivência, que implica na desgraça de uns
para o regalo dos outros. Até porque, segundo as palavras do próprio Cândido
Neves ao final da narrativa, “nem todas as crianças vingam – bateu-lhe o
coração” (ASSIS, 2008, p. 638).
A ideia da modernidade
econômica brasileira como simulacro, ou melhor dizendo, uma imitação dos
padrões europeus é largamente aceita pela fortuna crítica machadiana,
encontrando na expressão “ideias fora do lugar” a sua maior realização. No
entanto, Roberto Schwarz, um dos desconstrutores da ideia segundo a qual a obra
de Machado não possuiria qualquer relação com o social, simplifica o problema
do simulacro apontando para um deslocamento das ideias europeias quando, na
realidade, tais ideias simplesmente não eram adequadas a um contexto de
independência recente, como era o caso do Brasil no século XIX, e a uma
literatura que estava buscando sua própria identidade. “Pai contra mãe” nos dá
mostras de que a modernidade brasileira engatinhava no ano de 1906, marcado
pela euforia da reforma do engenheiro e prefeito Francisco Pereira Passos, pela
Abolição da Escravatura e pela Proclamação da República, fatos estes que, pelo
menos teoricamente, marcariam a entrada do Brasil na modernidade. Modernidade
esta que, todavia, jamais poderia ser atingida com base na imitação de modelos
culturais, literários e arquitetônicos franceses, e também com base na cópia do
struggle for life britânico, que
fazia com que homens como Cândido Neves, no auge de sua força de trabalho,
permanecessem na eterna dependência de sistemas de dominação para garantir a
sua própria sobrevivência.
Referências ASSIS, Machado de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. CANDIDO, Antonio. Dialética da malandragem. Revista de Estudos Brasileiros, n. 8, 1970, São Paulo, p. 67-89. FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres em uma ordem escravocrata. São Paulo: Editora UNESP, 1997. SCHWARZ, Roberto. As ideias fora do lugar. In: Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 2000. SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
*Professora do Curso de
Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE