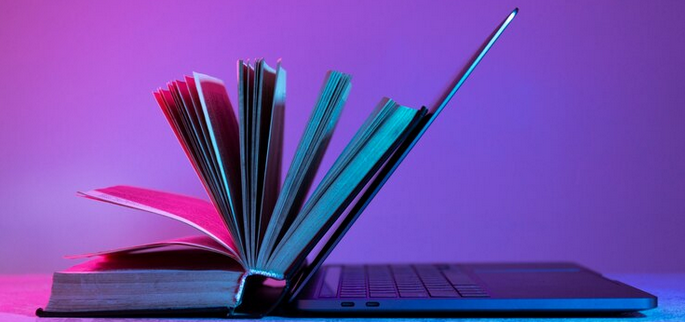AFINAL, O QUE É UMA GRAPHIC NOVEL?
Márcio Pereira Ribeiro
Uma
Graphic Novel é um tipo de história em quadrinhos publicada no formato
de livro. Embora o termo romance, em geral, se refira a longas obras ficcionais
em prosa, o termo "romance gráfico" é aplicado de maneira mais ampla
e inclui obras de ficção, não-ficção e antologias. O termo refere-se a qualquer
forma de HQ de maior duração, com temáticas mais adultas, argumento mais
elaborado, não necessitando de um super-herói, podendo narrar a vida de pessoas
comuns, anônimas, sem nenhum acontecimento surreal.
Irina
Rajewsky aponta a “Intermidialidade no sentido mais restrito de combinação de
mídias (ópera; filme; teatro; performance; quadrinhos, dentre outros): o
alcance dessa categoria vai desde a mera contiguidade de duas ou mais
manifestações materiais de mídias diferentes até a integração “genuína” de
elementos constituintes” (Rajewsky, 2012, p. 24-25). Dessa forma, compreendemos
que a Graphic Novel poderia ter sido um romance de 1000 páginas, mas sendo
o artista tão primoroso em desenhos e
argumentos, consegue misturar os gêneros e escrever uma boa história,
aproximando-a, na arte sequencial, a uma prosa ou romance (algo semelhante aos Light
Novels)1.
O
termo "graphic novel”2, popularizado pelo cartunista Will
Eisner3, surgiu na capa de sua obra prima “Um Contrato com Deus”
(1978), sendo considerado um trabalho maduro e complexo, focado na vida de pessoas
comuns no mundo contemporâneo e real. Eisner inspirou-se nos livros de Lynd
Ward, que produzia romances completos através de xilogravuras. Em sua capa fora colocado um selo "graphic novel" para
distinguir do formato das HQs tradicionais.
Eisner
não foi o primeiro a usá-lo, mas sim Richard Kile, em um ensaio no fanzine
Capa-Alpha #2, em 1964, e também em um artigo na revista Fantasy Illustrated
#5, de 1966. Recentemente o termo tem sido sinônimo de Trade Paperback (edições
encadernadas em formato de livros de história pré-publicadas em revistas).
Precursores
Les Amours de monsieur Vieux Bois (1828), do caricaturista suíço Rodolphe Töpffer, é considerada a mais antiga Graphic Novel. Contando com 84 desenhos, é uma sátira do romance sentimental: o protagonista se apaixona; histérico e melancólico, consegue vencer um rival, e finalmente se casa com sua amada. Em 1940, ocorre o lançamento de Classics Illustrated4, uma série de HQs que adaptou romances de domínio público, em edições independentes para jovens leitores.
Em 1946, Citizen 13660, da artista nipo-americana Miné Okubo, romance ilustrado, reconta, de forma autobiográfica, sobre o “internamento” de japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda em 1946, a Editore Ventura (Itália) publica uma coleção de HQs com as frases "romanzo completo" e “interamente illustrato a quadretti”; usando também a expressão "Picture Novel" na capa da revista bilíngue italiano-inglesa de HQs "Per voi! For you!".
Um
ano depois, em 1947, a Fawcett Comics publicou Comics Novel #1: "Anarcho,
Dictator of Death", uma história em quadrinhos de 52 páginas com um único
enredo. No ano seguinte, a Ediciones Reguera (Espanha) lançou uma coleção de
adaptações de obras literárias chamada La novela gráfica. Em 1950 a St. John Publications
apresenta a história adulta It Rhymes with Lust,
em formato digest, com
bastante influência do cinema
noir, estrelado por uma mulher ruiva
manipuladora chamada Rust. Tendo ainda uma 2ª edição: The Case of the Winking Buddha. “Um romance
de longa-metragem original" dizia sua capa.
Tinha 128 páginas,
no formato digest. A popularidade do
gênero entre o público leitor pode ser confirmada em 1982, quando
a Marvel Comics — tradicional editora de HQs — a publicar Marvel Graphic Novel. A primeira seria “A morte
do Capitão Marvel”, de Jim Starlin.
A partir dos anos 1980,
houve uma sequência grande de publicações neste gênero, como Maus (1980
a 1991), de Art Spiegelman; The
Crow (1981), de James O'Barr; Ronin (1983/84), de Frank Miller; The Dark
Knight Returns (1986), de Frank Miller e Lynn Varley; Watchmen
(1986/87), de Alan Moore e Dave Gibbons; V for Vendetta (1988), de Alan
Moore e David Lloyd; A Arte Suprema (1997), de Rui Zink e António Jorge
Gonçalves; Sin City (1991/92), de Frank Miller; Os 300 de Esparta
(1998), de Frank Miller; From Hell (1999), de Alan Moore e Eddie
Campbel; Ghost in the Shell (2002), de Masamune Shirow, entre outras
publicações de grande sucesso editorial.
Percebemos nesses quadrinhos contemporâneos,
bem como nas obras de Will Eisner, intensa midiatividade/midiaginia, pois
demonstram grandes possibilidades de adaptação para o cinema. As mídias podem ser
maleáveis ou resistentes em termos de estruturação midiática. Cada uma
delas (teatro, cinema, ópera, quadrinhos, o vídeo musical da MTV, etc.) possui energias comunicativas, potencialidades
expressivas e possibilidades técnicas específicas que são mais, ou menos,
compatíveis com certos substratos narrativos. Assim, a midiatividade é
determinada pelas características da mídia, ou seja, “pela configuração
semiótica interna que ela pressupõe e pelos aparatos comunicacionais e
relacionais que é capaz de gerar” (GAUDREAULT; MARION, 2012, p. 122).
A transposição de um texto-fonte (literatura) para uma outra mídia (cinema) implica em um processo de adaptação desse texto às possibilidades expressivas e técnicas
do novo suporte.
A midiaginia ou adaptabilidade de um texto é a capacidade de regeneração do mesmo em diferentes mídias.
Por fim, entender o que é
uma Graphic Novel significa reconhecer que ela não cabe tão facilmente
nas categorias tradicionais que usamos para separar literatura, artes visuais e
narrativas sequenciais. Como aponta Rajewsky (2012), esse tipo de obra vive
justamente no espaço entre mídias, combinando texto e imagem de um jeito que
não é apenas ilustrativo, mas profundamente integrado. É essa mistura que faz
com que muitas Graphic Novels tenham o peso narrativo de um romance,
mesmo sem depender exclusivamente da palavra escrita.
O percurso histórico — de Töpffer às experiências editoriais do século XX e à consagração do termo com Will Eisner — mostra que as Graphic Novels não surgiram de repente. Sendo construídas aos poucos, em diferentes países, nomes e formatos, até se firmar como uma alternativa adulta e complexa às HQs tradicionais.
Quando observamos as Graphic Novels à luz das ideias de Gaudreault e Marion sobre midiatividade e adaptabilidade, fica claro por que tantas dessas obras se transformam facilmente em filmes, séries ou animações. Não é só porque “parecem cinema”, mas porque suas formas de organizar o tempo, o ritmo e o ponto de vista dialogam naturalmente com outras mídias. Essa capacidade de circular entre formatos é parte importante de sua força narrativa.
Assim, pensar a Graphic
Novel hoje é pensar numa forma de narrativa que nasce exatamente do
encontro entre mídias, tradições e técnicas. Ela não é apenas um livro, nem
apenas uma HQ estendida — é um espaço de mistura, experimentação e
reinvenção. E é justamente por isso que continua crescendo no interesse do
público, da crítica e da academia: porque nos obriga a repensar como as
histórias podem ser criadas, lidas e transformadas quando texto e imagem
trabalham juntos de verdade.
Notas:
1
Light Novels (ranobe ou rainobe): romances ilustrados geralmente no estilo anime/mangá.
2 Até 1960 havia outras denominações: Comic Novel, Graphic Album, Novel-in-pictures e Visual Novel.
3 William
Erwin Eisner (Brooklyn, 1917 — Lauderdale Lakes, 2005), foi um renomado
quadrinista; em 70 anos de carreira, atuou como desenhista, roteirista,
arte-finalista, editor, cartunista, empresário e publicitário. Eisner é
considerado o papa dos quadrinhos modernos, havendo, inclusive um prêmio anual
com seu nome, o Will Eisner Prize, dedicado aos melhores graphic novels do
período.
4 Entre
os autores que tiveram suas obras adaptadas para o formato Graphic Novel
estavam Júlio Verne, Alexandre Dumas
, James Fenimore Cooper, Robert Louis
Stevenson, Charles Dickens, Walter Scott, William Shakespeare, Mark Twain, H.G.
Wells entre outros.
---------------------------
Márcio
Pereira Ribeiro é mestre e doutor em
Teoria Literária pela UNIANDRADE. Pesquisa mitologia, intermidialidade e
tradução. Atua na área da Educação há mais de 20 anos.