CAMPINA GRANDE EM PEDAÇOS: UMA TRADIÇÃO
INTERROMPIDA
Verônica Daniel Kobs
Crédito da imagem: Capa
feita por George Tenório Pinto.
O livro Campina Grande em pedaços: a tragédia de José Pinheiro em 1974,
de Juliana Nascimento de Almeida, articula pesquisa histórica e sensibilidade
literária para reconstituir, através da memória e da narrativa, o drama
coletivo de uma fatalidade silenciada na história de Campina Grande. Diante
disso, este ensaio objetiva refletir sobre a estrutura, os recursos discursivos
e o tratamento temático do livro, enfocando sua relevância para os Estudos Literários
e Culturais que se voltam à cidade, à memória e às representações periféricas.
Entre o bairro e a cidade: a centralidade das identidades locais
A historiadora parte de uma perspectiva metonímica para pensar a cidade.
Afinal, como ela afirma: "Pensar em bairro é pensar na formação de
‘pequenos mundos’ dentro da cidade" (Almeida, 2021, p. 7). Dessa forma, ao
eleger o bairro de José Pinheiro como foco, a autora desestabiliza a visão
hegemônica da cidade como um espaço uniforme, projetando sobre esse “bairro-cidade”
um olhar que une pertencimento, memória afetiva e história silenciada. Sob essa
ótica, o espaço tem uma vida autônoma dentro de uma urbanidade maior: "[...]
ele vai ser identificado como ‘cidade dentro de outra’, quando ocorreu
crescimento vertiginoso, coincidindo com o próprio crescimento da cidade"
(Amorin, citada em Almeida, 2021, p. 10, grifo no original).
Sem dúvida, isso desafia as hierarquias urbanas que historicamente
relegam as periferias às margens da narrativa. Corroborando essa ideia, Almeida
retoma, com acuidade metodológica, a perspectiva proposta por teóricos como
Sandra Pesavento (2007), ao compreender a cidade como um tecido vivo de
práticas, afetos e contradições, e não apenas como um conjunto de estruturas
físicas. Ao longo do texto, a cidade é narrada de baixo para cima: o olhar não
é o das elites urbanas, mas o das vozes silenciadas, dos corpos anônimos, das
memórias não oficiais.
O “Zepa”, termo ambíguo que tanto carrega afeto como estigma, é elevado pela
autora a um símbolo de resistência — um território popular onde se conjugam
trabalho, religiosidade, cultura, violência e festa. Trata-se de uma prática
textual que remete à “memória subterrânea” descrita por Michael Pollak (1989),
que resgata fragmentos esquecidos do passado coletivo, oferecendo-lhes forma
narrativa e relevância social.
Outro fator determinante do livro é a análise do silenciamento em torno
da tragédia. Assim, a afonia é apresentada como uma forma de violência. Nesse
contexto, Almeida denuncia o esquecimento, ao mencionar o "evento marcante
para o bairro e para a cidade”, mas que hoje é “pouco conhecido por seus
populares" (Almeida, 2021, p. 8). Esse apagamento é lido como sintoma de
uma memória seletiva, que tende a excluir acontecimentos que confrontam a
imagem de "progresso e ordem" (Benjamin, 2006) atribuída à Campina
Grande industrializada. Na tentativa de resgatar o fato e avaliá-lo em toda sua
envergadura, a autora dialoga com os conceitos de Maurice Halbwachs (2006), para
reativar uma "memória coletiva" que se estrutura em torno da dor
partilhada. Ao inserir depoimentos, imagens e registros esquecidos, Almeida
transforma sua obra em instrumento de reparação simbólica.
Entre o arquivo e o afeto: literatura historiográfica e memória
traumática
A estrutura da obra está organizada em duas partes complementares. A
primeira reconstrói o cotidiano do bairro, seus espaços de sociabilidade e seus
personagens — como José Pinheiro, o curandeiro e festeiro que deu nome ao lugar
— com forte ênfase em fontes documentais, relatos orais e jornais da época. A
segunda parte trata da explosão ocorrida em dezembro de 1974, durante uma
quermesse natalina e que vitimou dezenas de moradores do bairro.
Entretanto, Almeida não apenas narra o fato. Ela também realça a
reverberação da tragédia na memória coletiva. O rastro físico e simbólico da
explosão que lançou pedaços de corpos sobre tetos de casas e muros da igreja constitui-se
como trauma. Portanto, o tipo de relato que a autora privilegia inscreve-se na
tradição do testemunho, tal como definida por Shoshana Felman e Dori Laub (1991).
Com esse diferencial, trata-se de resgatar algo que vai muito além daquilo que
se viu, porque também se consideram o silêncio e o apagamento.
Para isso, a autora realiza um duplo movimento. A narrativa arqueja com a
história, como diria Walter Benjamin (2015), mas também propõe uma
interpretação a partir de um lugar de fala específico — o do pertencimento. Como
resultado, Almeida insere-se no fato, ao se considerar filha do bairro,
herdeira de suas dores e de sua força, aperfeiçoando seu texto com uma tensão
emocional que o aproxima da autoficção histórica, sem jamais perder o rigor
documental.
Aliás, essa é outra qualidade do livro, que se destaca pela combinação de
cientificidade e densidade emocional. Por meio desse entrelaçamento, a autora
mobiliza fontes como jornais da época (sobretudo o Diário da Borborema),
documentos, relatos orais e registros fotográficos, ao mesmo tempo em que
escreve com voz própria, dividindo com o leitor sua percepção como filha do
bairro: "Foi assim, voltando o olhar a este espaço, o qual também é parte
do meu lugar na cidade, que me senti instigada a revisitar algumas dessas
memórias" (Almeida, 2021, p. 8).
Tradição e rupturas: a tragédia como chave de leitura da urbanidade
No que se refere ao aspecto temporal, é significativo que a autora estabeleça
uma relação entre os espaços de festa e a tragédia. O bairro que era antes
palco de pastoris, blocos de carnaval, missas campais e festas do padroeiro,
torna-se, de repente, cenário de horror. No início do livro, destacam-se os
rituais festivos como elementos próprios da comunidade e do pertencimento:
"[...] o bairro surge como um território marcado por seus próprios
códigos" (Almeida, 2021, p. 21).
Porém, a tragédia de 1974 interrompe brutalmente essa sequência de celebrações.
No que deveria ser uma noite de alegria, durante uma quermesse natalina, um
cilindro de gás hidrogênio explode, tirando a vida de muitos moradores. Conforme
as notícias veiculadas no Diário da Borborema:
[...] inúmeros eram os relatos de horror sobre tal
acontecimento, [...] o trauma se instalava. [...] com a explosão do artefato,
vários pedaços de corpos foram arremessados em casas e na própria Igreja, [...]
denunciados, quase sempre, pelo mau cheiro desenvolvido com o avançar do
processo de decomposição desses restos humanos. (Almeida, 2021, p. 30)
A autora narra esse evento com uma sensibilidade que evita o
sensacionalismo, já que sua preocupação é evidenciar como o trauma se inscreve
na memória coletiva e como o esquecimento institucional pode ser mais violento
do que a tragédia em si. Essa ruptura simbólica é central para o entendimento do
tom da narrativa: a festa interrompida é também a infância violada, a comunhão
desfeita, o riso transformado em grito. O contraste entre festa e tragédia transcende
o plano discursivo e alcança a esfera estrutural.
Utilizando uma linguagem que alterna o descritivo e o poético, o
acadêmico e o afetivo, Almeida cria um efeito de ritmo oscilante que remete à
teoria do verso em sua forma livre. Nesse sentido, não importa a métrica ou a regularidade.
A expressividade da obra está na cadência emocional. A própria ideia da
fragmentação, exposta no título, reforça a estrutura da memória em frangalhos,
como um poema rasgado que tenta se recompor com as partes que restam.
No capítulo dedicado à explosão do cilindro de hidrogênio durante os
festejos natalinos, Almeida mobiliza com precisão a análise jornalística da
época para desmontar as narrativas oficiais, muitas vezes evasivas,
culpabilizando um “garrafeiro” e obscurecendo as condições de negligência e
precariedade que desencadearam a tragédia. Essa releitura crítica da imprensa
local aproxima o livro de uma prática ensaística engajada, semelhante àquela
proposta por autores como Eduardo Galeano, por exemplo, que denuncia as
estruturas de exclusão e omissão nas narrativas oficiais. Dessa forma, ao
devolver a tragédia à cidade — e não apenas ao bairro — a autora propõe uma
reflexão sobre o modo como as identidades urbanas são determinadas por meio daquilo
que é silenciado.
A escrita como antídoto ao esquecimento
Campina Grande em pedaços extravasa os limites do registro
histórico ou documental para se inscrever como manifesto em prol da memória, da
identidade cultural e da justiça. Consequentemente, Juliana Nascimento de
Almeida assume seu papel como sujeito da história, rompendo com o
distanciamento da narração tradicional e escolhendo a escrita como forma reparadora.
Em outras palavras, trata-se de uma obra contra a invisibilidade, porque,
ao transformar uma memória traumática em narrativa compartilhada, a autora
recupera o direito à lembrança como instrumento de cidadania. Sua escrita, que
mistura o rigor acadêmico da historiadora com a sensibilidade da escritora,
oferece ao leitor um documento vivo, um ato poético de revisão crítica.
Com forte apelo à literatura da memória, à urbanidade e à teoria do
testemunho, Campina Grande em pedaços convida o leitor a pensar sobre o
que se quer lembrar e sobre o que a sociedade é obrigada a esquecer. Emprestando
mais uma vez as palavras de Walter Benjamin, articular historicamente o passado
não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma
lembrança que relampeja nos instantes de perigo (Benjamin, 1994, p. 224-225). É
justamente isso que Almeida nos oferece justamente isso: um relâmpago que
ilumina momentaneamente o rosto partido da cidade. Assim, a autora nos faz compreender
que o esquecimento também é um tipo de violência. Como Luíra Freire Monteiro escreve,
no “Prefácio” do livro, a "cidade precisa se repensar, se enxergar na
crueza do contexto" (Almeida, 2021, p. 5). É nesse espelho estilhaçado da
memória que a obra se estabelece como um pedaço essencial da História e da
identidade de Campina Grande.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Juliana N. de. Campina
Grande em pedaços: a tragédia de José Pinheiro (1974). 1. ed. Campina Grande:
Nativa Edições, 2021.
BENJAMIM, Walter. Magia e
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7.
ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção Obras escolhidas, v. 1).
BENJAMIM, Walter. Passagens.
Belo Horizonte: UFMG, 2006.
BENJAMIM, Walter. Baudelaire e a modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
FELMAN, Shoshana; LAUB, Dori. Testimony: crises of witnessing in
Literature, Psychoanalysis and History. Londres: Routledge, 1991.
HALBWACHS, Maurice. A
memória coletiva. São Paulo: Vértice, 2006.
PESAVENTO, Sandra J.
Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginárias. Revista Brasileira
de História, v. 27, n. 53, São Paulo, jan.-jun. 2007, p. 11-23.
POLLAK, Michael. Memória,
esquecimento, silêncio. Estudos históricos, v. 2, n. 3, Rio de Janeiro, 1989,
p. 3-15.
-------------------------
Verônica Daniel Kobs tem Pós-Doutorado em Literatura e Intermidialidade pela UFPR. É Professora e Pesquisadora de Literatura, Mídias e Tecnologia Digital. Atualmente, é Coordenadora e Professora dos cursos de Mestrado e Doutorado em Teoria Literária da UNIANDRADE.
Juliana Nascimento de Almeida é Doutoranda do Curso de Ciências da Educação, Dinâmica Social Pós-Moderna e Religiosidade da Florida University of Science and Theology (FUST). Na UEPB, atuou como monitora do componente curricular “História da Paraíba”. Na FUST, atua como Coordenadora Pedagógica e Coordenadora do Grupo de Estudos de Metodologia da Investigação Científica.
Para ler o livro completo de Juliana Nascimento de Almeida, acesse o link:
https://drive.google.com/file/d/1uo-UvMROr_2sK1hbg1_f0P1pjPPvpCYg/view?usp=sharing
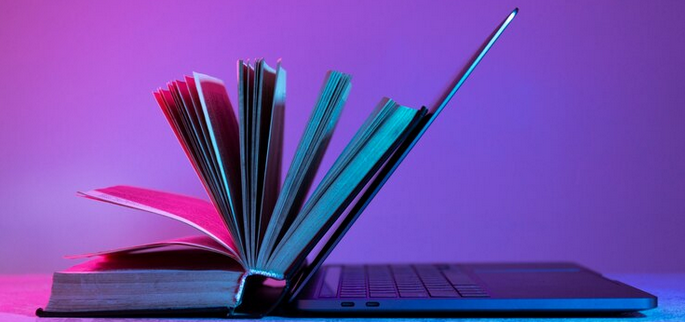

Nenhum comentário:
Postar um comentário