Edson Ribeiro da Silva*
Quem viu Boyhood sabe que não se trata de uma experiência cinematográfica
convencional. O filme foi criado e produzido a partir de um conceito, uma ideia
nova. Aquilo, afinal, que diferencia a arte realizada com intenções estéticas
no mínimo ambiciosas da realização corriqueira do já-visto, do já-feito,
pobreza esta que caracteriza tantas produções de nossa época.
Ter levado doze anos para se filmar uma
história corriqueira poderia soar como um indício de que algo não estava bem
nessa produção. Falta de recursos? Condições adversas? Nada a ver. Apenas a
realização de uma ideia, uma proposta estética. Em vez de se contar uma
história cuja narrativa levasse doze anos, trocando os atores, fazendo reconstituições
de época, o que se vê são atores sofrendo as modificações do tempo. Ao mesmo
tempo, veem-se as modificações que o tempo provoca naqueles elementos
corriqueiros, como a música que se escuta e o aparelho através do qual ela é
escutada. Tudo inserido em sua devida época, sem reconstituições.
O ator Ellar Coltrane, que era um garoto de seis anos de 2002, quando as filmagens começaram, talvez nem pudesse ser chamado então de ator. Era cedo demais para que soubesse a dimensão do projeto em que estava inserido. Em 2014, quando as filmagens acabaram, o rapaz de dezoito anos já apareceria nos inúmeros festivais em que o filme foi premiado, na condição de profissional. No projeto cinematográfico em que foi incluído, interessam sobretudo as transformações físicas na imagem do menino que, como diz o subtítulo do filme na sua versão
brasileira, passa “da infância à juventude”.
O roteiro foi produzido para essas transformações, e a produção se direciona no sentido de inserir, a cada ano em que ocorrem as filmagens, sempre no verão, essa imagem em contextos históricos, culturais, tecnológicos, que possam evidenciar que existem momentos diferentes ao longo dessas mudanças na pessoa. Momentos que ficam evidentes, por exemplo, na trilha sonora, que exibe a cada ano o sucesso ouvido por aquela geração. Mas ainda, na presença de recursos tecnológicos, aqueles que acompanhavam o desenvolvimento de novos aparelhos que a geração toma como rotineiros. Desde os bichinhos virtuais e computadores imensos aos minúsculos telefones e tablets do presente.
De um modo geral, é possível ver-se
nesse registro de componentes de uma época aquilo que Benedito Nunes chama de tempo histórico, que é uma forma
cultural de se segmentar o tempo físico
ou cósmico. Há um contexto
histórico-cultural, e ele não está lá apenas para ilustrar a época. É nela que
a vida normal do garoto se desenrola. Usar um computador “da época” é apenas
uma condição para se mostrar a rotina de um menino que chega à idade adulta e
termina o filme como universitário de forma realista. Roland Barthes chamou a
presença de tais componentes, no texto literário, de “efeito de real”. Em Boyhood, é um real localizado no tempo,
e permite que se veja, a cada momento, a rotina como típica de um garoto, ou de
um adolescente, ou de um jovem adulto daquele tempo histórico. O efeito, aqui,
não é uma estratégia de representação, mas elemento do real em si.
O mesmo efeito de real, no resultado final do
filme, até para aquele que não conhece as condições de produção em que foi
realizado, aparece nos modismos de cada época. E o diretor teve o cuidado de
pedir que, a cada ano, os atores aparecessem tais como estavam, seja em relação
a roupas ou a cortes de cabelo. Difícil pensar que jovens que a cada verão
compareciam para filmar uma produção cinematográfica pudessem contar com uma
espontaneidade rotineira quando os dias de filmagem se aproximassem. Mas o real
está lá, com seus cortes de cabelo, suas roupas, tudo que acaba revelando
especificidades de épocas próximas no tempo físico, mas portadoras de uma
possibilidade de salto quando se refere à fase da vida captada pelo filme.
Ainda segundo Nunes, existe um tempo físico, que pode ser chamado aqui
de biológico, aquele das transformações nos seres e que nos indica que para
alguém a vida está passando. Ele é um tempo cruel, pois irrevogável. Foi para
ele, mais que para qualquer outro, que Boyhood
foi concebido. É um filme que mostra o rosto que ganha espinhas para, mais
tarde, ganhar os primeiros pelos e, depois, aquela complexão adulta da pessoa
que cresceu. E o filme procura deixar claro que a história não acaba junto com
o filme. Por isso, nada de clímax ou desfechos definitivos. A infância passou e
com ela aquela inocência do menino que dizia saber que vespas surgem da água
jogada para o alto. Ou a dor banal, a “pagação de mico” do pré-adolescente que
precisa aparecer na escola com a cabeça raspada e sofre a gozação dos amigos. O
rosto de Coltrane exibe esse tempo biológico. Seria frugal em um álbum de
família. Em um filme de pouco mais de duas horas, ganha uma dimensão sofrida,
de estranhamento, pois a sensação de a vida passar rapidamente incomoda quem
assiste. Ainda assim, é possível voltar ao início do filme; na vida real, não
há regressos.
A imagem de Patricia Arquette sofrendo as
transformações do tempo físico não possuem a dimensão lírica da condição de
formação que identifica as mudanças do ator protagonista. No caso dela, o que
se tem é uma mudança indesejada. Por isso, a fala que mais marca a personagem,
a mãe do protagonista, ocorre no momento em que o rapaz está se mudando para o
alojamento da universidade onde vai estudar. Ela diz que, após ter criado os
filhos e tê-los entregue ao mundo, só lhe resta morrer.
Se o tempo biológico incomoda, é ele que
resulta em um roteiro que unifica uma experiência cinematográfica tão original,
como mostrar o tempo real antes mesmo de sua representação como enredo. Há um
enredo que pode ser considerado muito menor que a fábula que o organiza, para
usar as expressões do Formalismo Russo. O enredo é feito de banalidades, do
ponto de vista de quem espera uma trama cheia de peripécias. Assim, as críticas
chamam o roteiro de mediano: não há grandes conflitos, dramas fora da rotina. O
que o roteiro faz é mostrar a vida normal, ao longo dos anos que vão da
infância à juventude (ou à idade adulta). Ali estão os trabalhos escolares; os
passeios com o pai nos finais de semana; o momento em que o adolescente, junto
com seu círculo de amigos, aprende a beber, fuma escondido; conhece o sexo;
forma-se e consegue ser aceito em uma universidade. Nada fora do eixo. O filme
apenas ganha um tom de peripécia na cena em que o padrasto alcóolatra é
abandonado pela família. O filme ficaria bem sem ela. Afinal, a sua opção pela
vida comum lançada em um tempo efetivo, que tudo muda, faz lembrar as grandes obras
literárias que perseguem a representação da duração, como Mrs. Dalloway e Ulisses,
com seus dias comuns, As ondas, com a
experiência do crescimento, ou as grandes durações do bildungsroman, como ocorre em Os
buddenbrooks.
No cinema, a representação da vida banal de um
garoto, da infância à juventude, em sequências marcadas por momentos
rotineiros, aqueles que podem ser vistos em qualquer teen movie, daqueles que a televisão exibe sem nenhuma ambição de
audiência, pode resultar em recusa. Aquele estranhamento de que falava o
Formalismo Russo, como sendo uma qualidade da obra literária realmente
inovadora e que partisse de um conceito que rompesse com o já-visto. No cinema,
o estranhamento ainda é uma atitude perigosa. Estranhos são os filmes de arte, mas
quase nunca aqueles feitos para o grande público. O filme conseguiu prêmios
merecidos; público, talvez pela curiosidade. Ser considerado um dos melhores
filmes da década é algo recusado por aquele público que não entendeu que o
conceito complexo, que a produção demorada, que o tempo em suas várias
modalidades, tudo isso resultou em uma reflexão poderosa sobre a vida comum, no
que ela se repete para quase todo mundo, porque ultrapassa os limites da
simples representação como mímesis e ganha a dimensão de documento que registra
os efeitos reais (e não meros efeitos de real) da duração.
Se ainda se tomarem Benveniste ou Nunes como
guias, há o tempo linguístico,
constituído pelos recursos de que a língua dispõe para representar a
experiência humana, a partir sempre do momento em que se enuncia. Boyhood complexifica esse tempo. Afinal,
o agora é o momento em que se filma cada etapa da vida de uma pessoa. No
sentido aristotélico, o tempo é uma sequência de agoras dispostos de modo a
formar uma linha. Todo filme é isso. Bergson chamou essa forma de representação
de ”ilusão cinematográfica da realidade”, algo que aqui, em Boyhood, torna-se uma provocação. A
ilusão de que a duração é uma sequência de agoras, como quadros de um filme
colocados um após o outro, faz com que a relação entre o tempo representado
pelo filme e o tempo em que é produzido se confundam e a vida comum, submetida
ao tempo real, surja como um conjunto de mudanças biológicas e históricas,
identificadas também como lançadas naquele tempo que Benveniste definia como crônico, e Nunes como físico, e que é apenas o conjunto das mudanças visíveis. Estar em 2002 ou
em 2014 é o modo oficial de indicar que o planeta girou, que o menino cresceu,
que os hábitos mudaram. Como dizia Bergson, o movimento dos astros não é o
tempo. O tempo real é essa duração que pode ser visível, de fato, nesse corpo
que cresce, no rosto da mãe enquanto envelhece. Essa duração é condição para
que o público, acostumado a um conceito menos filosófico do tempo, possa
apreender o filme em sua dimensão como tempo biológico e histórico, para depois
entendê-lo como tempo linguístico. A linguagem cinematográfica, como arte
temporal, está nessa sequência de quadros que, mesmo filmados fora da ordem do
roteiro, criam a ilusão da duração. Em Boyhood,
essa sequência de fases de uma vida obedece ao tempo real, precisa dele para
criar a representação ficcional. E a mudança não é ilusão. Até mesmo a
linguagem, como língua, é um recurso usado para mostrar que a
pessoa está em mudança. A linguagem típica de cada fase do crescimento está
representada com cuidado. É um trabalho eficiente de mostrar que houve mudança
naquilo que Nunes chama de tempo
psicológico, as características da personalidade que identificam a
conformação subjetiva. A linguagem do menino vai mudando tal qual sua
aparência.
A moral de toda essa história, seja da concepção
que norteou o filme, seja do roteiro sem sobressaltos, está na frase final, em
que o rapaz diz à nova namorada que a vida é isso, uma sequência de agoras na
qual o que importa é apenas viver cada um deles de cada vez. Por isso, a
metalinguagem da cena assume a condição de explicação: o filme quer do público
a compreensão de que existe uma beleza específica em cada agora, seja em cortar
o cabelo na marra, jogar boliche com o pai, tomar uma cerveja escondido,
formar-se, beijar uma garota, cada coisa de uma vez, sem que o conjunto precise
resultar em peripécias fora do banal, reviravoltas na cotidianidade ou
surpresas para o público. Metalinguagem que mostra os agoras da filmagem a cada
ano, mas também as fases do crescimento de uma pessoa, dos seis aos dezoito
anos.
Como diria Bergson, a falha dessa ilusão
cinematográfica está nos saltos entre as fases, como se as mudanças não fossem
progressivas, contínuas, impossíveis de serem quebradas em agoras. O filme
mostra uma possibilidade adequada a essa ilusão que o cinema possibilita. Um
esforço, mesmo assim, complexo para se mostrar uma linha temporal em que
mudanças estão ocorrendo e não pararão de ocorrer depois que o filme é
encerrado. O tempo real, vital, não pode ser reduzido à ilusão proporcionada
pelo cinema. Há mérito em se fazer pensar sobre isso.
*Professor do Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade.
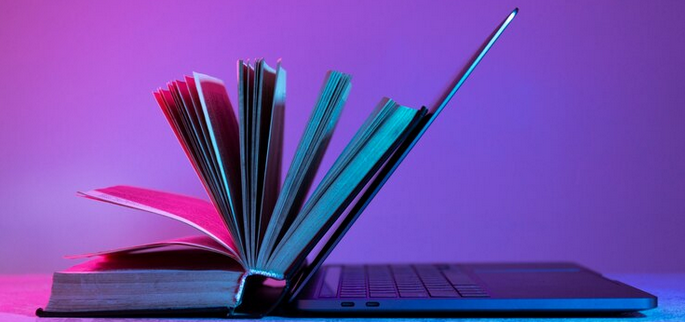








Nenhum comentário:
Postar um comentário