Anna Stegh Camati ⃰
A visão de mito como um agregado ao qual novas e
diferentes variáveis são acopladas, sintetizada por Heiner Müller, tem
parentesco com as perspectivas teóricas de Claude Lévi-Strauss (1908-2009) que,
na década de 1950, definiu o mito como a soma de todas as suas variantes. No
ensaio “The Structural Study of Myth” (O estudo estrutural do mito), publicado
inicialmente no Journal of American
Folklore, o antropólogo discute a natureza não canônica da mitologia grega,
argumentando que não há uma única versão autorizada de nenhum dos mitos
conhecidos, mas uma rede intertextual de numerosas variações que se originaram
em diferentes tempos e lugares. Ao enfocar o mito de Édipo, o autor postula que
todas as variantes disponíveis, desde a Grécia antiga até o tempo presente,
devem ser levadas em consideração, visto que “não há nenhuma versão individual
‘verdadeira’ da qual as outras seriam cópias ou distorções. Toda e qualquer
versão pertence ao mito em questão” (1963, p. 218, minha tradução). Lévi-Strauss
também argumenta que os mitos são constantemente apropriados e recriados por
conta de suas narrativas arquetípicas que revelam características essenciais da
condição humana (1963, p. 209).
A natureza regenerativa do mito, um aspecto que
remonta à raiz e origem do gênero dramático ocidental, pode ser relacionada ao
conceito de arquitexto, definido por Gérard Genette (1992) como um modelo
sujeito a modificações. É importante salientar que a prática de recriar modelos
surgiu no período helenístico quando os poetas trágicos baseavam seus textos em
diferentes versões de numerosos mitos ancestrais, mas tinham a liberdade de
introduzir alterações para despertar o interesse dos espectadores que frequentavam
os grandes teatros, construídos ao ar livre nas encostas das montanhas. Donaldo
Schüler (2004, p. 7), na introdução de sua recente tradução de Édipo Rei, ressalta que os gregos não
saíam de casa “para rever o que já sabiam”, mas para assistir a espetáculos com
sabor de novidade. Afirma, ainda, que Sófocles “muda o nome da mãe de Édipo,
introduz a enigmática esfinge, a peste, o processo em que o juiz é réu, a
autopunição voluntária, o exílio...Inventando e valendo-se de invenções
alheias, Sófocles produziu uma peça de indiscutível originalidade” (SCHÜLER,
2004, p. 7).
Eurípides, por sua vez, construiu uma narrativa dramática
coerente a partir de uma série de conexões imprecisas que encontrou em
variantes do mito de Medeia. O autor não privilegiou a viagem de Jasão e os
Argonautas, mas preferiu relatar as consequências dos eventos heróicos em sua
tragédia. Como em Shakespeare, as paixões humanas são o centro de interesse e
os polos da oposição trágica se encontram no interior do homem. Em Medeia (431 b. C.), Eurípides explora
regiões trágicas não desbravadas por Ésquilo e Sófocles, introduzindo muitas
inovações em seu texto, dentre elas o infanticídio de Medeia como um ato
inteiramente premeditado. No mundo grego, em nenhuma outra versão do mito de
Medeia, a protagonista mata os filhos com suas próprias mãos, nem se torna
porta-voz de um discurso revolucionário em defesa das mulheres.
O afastamento de Sófocles e Eurípides das versões
tradicionais da mitologia constitui apenas uma das muitas evidências de que a prática
de ressignificação dos mitos foi iniciada pelos tragediógrafos gregos que
imprimiram sua marca em seus escritos. Procedimentos similares foram usados
pela dramaturgia neo-clássica e, mesmo Sigmund Freud, vestiu com novas
roupagens os mitos que encontrou na literatura dramática, principalmente em
Sófocles, Shakespeare and Ibsen.
Além de apropriar-se da saga dinamarquesa de Amleth,
Príncipe da Jutlândia, recontada por Saxo Grammaticus no final do século XII e
publicada em 1512, Shakespeare também inscreve, no enredo trágico de Hamlet (1601-1602), temas e motivos que
remetem aos mitos e antigos ritos sacrificiais oferecidos aos deuses da
vegetação, os quais, de acordo com Charles Marowitz, são elementos que habitam
as camadas mais profundas da mente humana:
[...] há uma
espécie de marca cultural de Hamlet no inconsciente coletivo das pessoas, de
modo que crescemos tendo familiaridade com Hamlet,
mesmo que nunca tenhamos lido a peça, visto um filme ou assistido a uma
encenação. O ‘mito’ incorporado no texto é mais antigo que a peça, e a
sobrevivência da peça na imaginação da modernidade tem base no mito. (MAROWITZ,
1991, p. 19)
Shakespeare traça um paralelo (com diferenças) ao implantar,
em Hamlet (1601-1602), o modelo mítico
que permeia Édipo Rei, de Sófocles. Assim
como acontece em Tebas, os ritmos naturais da vida são destruídos em Elsinore,
porque tabus culturais foram violados. Ambos os personagens-título, Édipo e
Hamlet, podem ser identificados com o bode expiatório sacrificial, e ambos são incumbidos
da tarefa de consertar o que está errado em um mundo que se encontra fora dos
eixos. No entanto, enquanto Édipo é responsável pela disseminação da peste (mesmo
que inadvertidamente), Hamlet não tem culpa em relação aos males que acometem sua
comunidade, visto que o fratricídio foi perpetrado pelo seu tio Claudio. As
referências à poluição e pestilência anunciadas na abertura da peça grega – a
esterilidade da terra, a morte dos rebanhos e a infertilidade das mulheres –
encontram ecos no texto de Shakespeare, no qual imagens de podridão e doença
são recorrentes para simbolizar uma organização social doentia. Ao longo da
peça, Hamlet reflete sobre a corrupção à luz de valores e crenças vigentes em
sua época. Em seu primeiro solilóquio, o príncipe compara a Dinamarca a um
jardim repleto de ervas daninhas que crescem e se multiplicam rapidamente, um
lugar onde se observa a proliferação da desordem e da decadência (SHAKESPEARE,
2004, p. 44).
No artigo “A representação dos clássicos: reescritura
ou museu”, a pesquisadora francesa Anne Ubersfeld (2002, p. 9-10) discute as
mudanças de ótica que ocorreram nas artes cênicas em relação à montagem dos
clássicos, visto que hoje a reconstituição arqueológica cedeu lugar à adaptação
criativa. Ela argumenta que não há um corte temporal decisivo para a
canonização de um texto, visto que tudo
o que se escreve hoje tende a deslizar para o clássico. Acrescenta, ainda, que mesmo um texto
canônico, cuja problemática permanece próxima da atualidade apesar do
afastamento temporal, também exige uma adaptação para tornar-se legível ao
espectador de hoje.
Referências
EURÍPIDES. Medéia.
Trad. Millôr Fernandes. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2004.
GENETTE,
Gérard. Palimpsestos: a literatura de
segunda mão. Extratos traduzidos do francês por Luciene Guimarães e Maria
Antônia Ramos Coutinho. Cadernos do Departamento de Letras Vernáculas. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de
Letras, 2005.
LÉVI-STRAUSS,
Claude. The Structural Study of Myth. In: _____. Structural Anthropology. v. 1. Trans. Clair Jacobson and Brooke
Grundfest Schoepf. New York: Basic, 1963. p. 206-231.
MAROWITZ,
Charles. Recycling Shakespeare. London:
Macmillan, 1991.
SHAKESPEARE,
William. Hamlet. Trad. Anna Amélia de
Queiroz Carneiro de Mendonça. Rio de Janeiro: Lacerda, 2004.
SÓFOCLES.
Édipo Rei. Trad. Donaldo Schüler. Rio de
Janeiro: Lamparina, 2004
UBERSFELD,
Anne. A representação dos clássicos: reescritura ou museu? Trad. Fátima Saadi. Folhetim, nº 13, p.
08-37, abr./jun. 2002.
⃰ Anna Stegh Camati é Professora Titular das
disciplinas “Teorias do Teatro” e “Poéticas da Reciclagem” do Mestrado em
Teoria Literária do Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE), em
Curitiba.
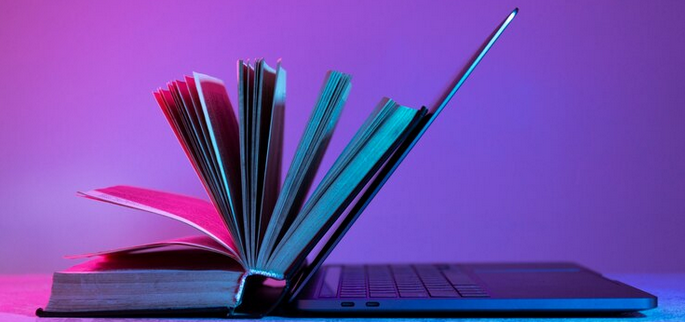
Nenhum comentário:
Postar um comentário