Otto Leopoldo Winck*
O processo
de aldeialização do globo – isto é, o
processo de unificação cultural que começa reunindo clãs e tribos e tem por fim
a consolidação de um sistema-mundo, para nos servirmos da terminologia de
Immanuel Wallerstein – nem sempre foi contínuo e linear.[i] Antes da emergência das
culturas nacionais, houve na Europa ocidental e central um sistema cultural
relativamente homogêneo, assentado sobre os pilares da herança judaico-cristã e
greco-romana. Neste vasto espaço social os intelectuais e literatos, por cima
de suas diferenças étnicas e regionais, compartilhavam um repertório comum de
regras e materiais. Por toda a Idade Média, as fronteiras políticas,
extremamente flexíveis, porosas e retalhadas, não guardavam relação com as
fronteiras muito mais amplas e nítidas desta cristandade de vocação
universalista, onde o outro, ou estava do lado de fora (os muçulmanos), ou
segregado em guetos (os judeus). Neste grande aldeia europeia não era incomum que
alguém, nascido em Castela e morto em Bolonha, como São Domingos, fundador da
ordem dos dominicanos, fizesse pregações na Dinamarca, circulasse
constantemente por Roma e Paris, e mandasse seus discípulos fundarem conventos
em lugares tão díspares como Inglaterra, Escandinávia, Alemanha e Polônia. Mais
tarde, na Idade Moderna, essa respublica
clericorum é substituída por uma respublica
litterarum. O holandês Erasmo de Roterdã, por exemplo, lecionou com a mesma
desenvoltura em centros como Paris, Lovaina, Veneza, Basileia e Cambridge, e em
suas muitas viagens esteve inclusive em Portugal. O substrato cultural de todos os
membros desta república é praticamente o mesmo. Longe de localismos, a
literatura é “universal”. As cartas que trocam entre si – primeiramente em
latim e depois em francês – atestam este fato. Com a emergência do
nacionalismo, todavia, esta unidade se fragmenta e, em vez da Weltliteratur [literatura mundial], como
pretendia Goethe, irrompem as literaturas
nacionais, de modo que a literatura em
alemão, em francês, em português vão se transformar aos
poucos nas literaturas da Alemanha, da França, de Portugal, as quais vão contribuir na configuração dessas novas
identidades nacionais.
Num artigo
sobre a importância das atividades literárias para a formação das nações da
Europa, Itamar Even-Zohar se pergunta se a literatura não seria um fenômeno
inerente à realidade europeia.[ii] A
resposta não é simples. “Não há, talvez, nenhuma sociedade organizada por nós
conhecida que não tenha uma espécie de ‘literatura’ (...)”.[iii] Todavia, embora as
atividades literárias não sejam uma exclusividade da história europeia, ele
pensa que
(...) os papéis que elas
desempenharam na organização da vida europeia podem, de facto, ser únicos.
Quando estes fenómenos se verificam em países não europeus durante os séculos
dezanove e vinte, constata-se que não se trata de uma continuação de
actividades literárias previamente existentes nesses países, mas antes de uma
actividade nova, resultante do contacto com as nações europeias.[iv]
Para
compreender a origem desta função talvez única que a literatura exerceu na
sociedade europeia a partir do século XVIII, é preciso retroceder não só às
origens da Europa mas aos albores da própria civilização. A primeira cultura
letrada de que se tem notícia floresceu entre os sumérios na Mesopotâmia, onde
a relação com os textos, tanto escritos quanto recitados, desempenhou um papel
de destaque. Não somente a elite tinha acesso diretamente ao repositório
textual, como produtores e intépretes, mas também boa parte da população, em
ocasiões festivas, tomava contato com o acervo de textos. O Código de
Hammurabi, as inúmeras estelas, as minuciosas descrições dos feitos dos
governantes, tudo isto, embora não possa provar a acessibilidade dos textos, demonstra
sua centralidade na vida social. Ao mesmo tempo, ao estabelecer a escola como
uma instituição de poder, os sumérios também criaram o cânone: um conjunto de
narrativas por meio das quais o mundo era interpretado.
Estas narrativas
tornaram-se muito poderosas no momento de transmitir sentimentos de
solidariedade, de pertença e, fundamentalmente, de submissão a leis e decretos,
que deste modo não precisavam de ser impostos apenas através da força física.
Assim, a cultura suméria foi a primeira sociedade a introduzir as actividades textuais
como uma instituição indispensável, usando-a com o objectivo de criar uma
coesão sócio-cultural.[v]
As
características desenvolvidas pelos sumérios são assumidas pelos povos que
gradualmente os substituiram, como os acádios, os babilônios, os hititas, os
assírios e uma série de tribos e cidades-estados que se espalham entre o
Eufrates e o Mediterrâneo, para não falar do Egito, que se desenvolveu de uma
maneira relativamente autônoma. Por conta das novas pesquisas, os laços entre
essas sociedades e a Europa vão se clarificando cada vez mais. Como os próprios
gregos reconhecem, o seu alfabeto tem origem fenícia. Ainda que não se tenha
certeza, pode-se afirmar com alguma probabilidade, que a “literatura”,
entendida aqui como atividade textual, “encontrou o seu caminho a partir da
Mesopotâmia, tendo os hititas (e talvez os lúvios) como intermediários, até à
cultura grega, através da qual se propagou, ao longo do tempo, às várias
sociedades europeias, num processo em cadeia.”[vi] Enquanto
não se pode medir o grau de coesão social produzido pela literatura nessas
sociedades do Crescente Fértil, é na Grécia que se observa pela primeira vez
evidências dessa função. Pode-se falar, nesse caso, com as devidas reservas, de
uma viragem – ainda que ela provavelmente não tivesse ocorrido sem a invenção
do alfabeto em Canaã. O
repertório literário, até então propriedade de um pequeno círculo de dirigentes
e de seus assessores, passa a ser partilhado por camadas mais amplas, ainda que
não abarquem mais do que uma parcela da sociedade. E mais:
As actividades textuais
têm agora lugar ao ar livre e não se limitam a hinos públicos ou a estelas com
inscrições inacessíveis, mas alcançam uma audiência cada vez maior. Permitem
inclusivamente uma certa crítica social e um tratamento menos reverente dos
governantes (em particular na tragédia e na comédia). Além disso, as histórias
dos tempos passados formam gradualmente um cânone amplamente aceite e
convertem-se em elementos básicos de ensino e de auto-diferenciação para grupos
cada vez mais amplos. (...)
Além disso, através
destes textos, a Koiné grega alcançou muito mais êxito do que qualquer
outra língua precedente (em comparação, o caso assírio foi antes um fracasso;
quando o Império caiu, ninguém continuou a falar assírio: a maior parte da
população já tinha passado a falar arameu). Talvez tenha sido na Grécia que se
constituiu um modelo através do qual uma língua de índole literária conseguiu
substituir gradualmente as variantes locais, para além de transmitir coesão
sócio-cultural através dos textos. (...)
Talvez deva ser
atribuída à Grécia outra mudança crucial, a saber, a clara proliferação de
sistemas culturais e “literários”. Enquanto que os textos na cultura suméria
(inclusive os que eram recitados em ocasiões públicas) eram compostos por
membros de uma elite e os textos na Babilónia, Assíria ou nos reinos hitita e
egípcio eram compostos pelos homens de letras, a Grécia proporciona-nos
culturas textuais tanto de elite como de carácter popular. (...) A origem da noção
moderna de “literatura” como algo relacionado com textos escritos situa-se
claramente na Grécia.[vii]
Como se
sabe, etruscos e romanos, e posteriormente, todos os demais povos europeus,
beberam da cultura grega. Enquanto a cultura grega, ou melhor, helenística, foi
adotada como parte da cultura romana dominante, esta produziu um repertório
próprio, decalcado das regras do protótipo grego. Virgílio não teria escrito a Eneida se não existisse antes uma Ilíada e uma Odisseia.
Ainda que na
Idade Média vigesse na Europa uma grande variedade étnica, a herança
greco-romana, aliada aos interesses centralizadores da Igreja e dos
governantes, não permitiram a eclosão de entidades locais. No entanto, quando
foi preciso “inventar” as nações, todo um conjunto de regras e operações já
estava potencialmente à disposição.
As “nações” ou
identidades francesa, alemã e italiana, do ponto de vista da coesão social, são
invenções tardias. Para construí-las, foram mobilizados e utilizados processos
já consagrados pelo tempo, naturalmente ampliados e adaptados às circunstâncias
locais. Os textos, produzidos numa língua nova ou uniformizada de novo,
funcionaram em todos estes casos como um destacado veículo de unificação para
pessoas que não se considerariam necessariamente “pertencentes” a uma
determinada entidade para além da sua localidade.
Na França, o
ponto crucial foi a Revolução Francesa, como já foi dito, quando a burguesia
não somente amealhou o poder político da aristocracia como também se apropriou
dos seus bens simbólicos. Ao mesmo tempo, ao ampliar o sistema escolar, delegou
à literatura uma saliente missão na constituição de uma identidade nacional. É
bom lembrar que até então boa parte dos franceses não falavam francês. “Tiveram
de ser persuadidos, gradualmente, a adquirir este conhecimento, o que não teria
sido possível sem os muitos textos que foram utilizados como instrumentos deste
empreendimento (...).”[viii]
Ou seja, a literatura, a “nova” literatura nacional, não só descreve a nação como a escreve – e, ao re-escrever seu passado, a inscreve
na modernidade.
Nos casos alemão,
italiano, búlgaro, servo-croata, checo e talvez mesmo no grego moderno, a
“literatura” foi mesmo indispensável para a criação das respectivas “nações”.
Em cada um dos casos, um pequeno grupo de pessoas, (...) conhecidos
popularmente como “escritores”, “poetas”, “pensadores”, “críticos”, “filósofos”
e similares, produziram um enorme corpus de textos para justificar,
sancionar e sustentar a existência (ou o seu desejo) e a pertinência de tais
entidades – as nações alemã, búlgara e italiana, etc.
O caso da
Alemanha, aliás, é sintomático.
Even-Zohar evoca o exemplo do pequeno Estado de Luxemburgo, um grão-ducado que
estranhamente escapou ao processo de unificação alemã. Sua principal língua é o
luxemburguês, um “dialeto” germânico que ascendeu ao status de língua nacional apenas pelo fato de ser a língua oficial
de um Estado independente. Tal como ele, antes de 1871, havia inúmeros ducados
e principados no atual território do Estado Alemão. Não houve nada de “natural”
na anuência desses diminutos Estados em se unirem à Prússia,
tendo em vista a criação
da união alemã, nem houve nada de “natural” na sua aceitação de uma língua
denominada “Alto alemão” (Hochdeutsch), unilateralmente uniformizado
(...). Mas foi a reputação dos textos produzidos nesta língua pela geração de Goethe, Schiller e outros que afinal criou a nova nação alemã.[ix]
Este pacote
– “uma nação, uma língua, uma literatura”[x] – já não era, quando da
unificação alemã, uma novidade. Mas de toda forma ele teve que ser
deliberadamente planejado e implementado. Como no caso dos patois na França, todas as demais variantes linguísticas que não se
conformavam ao novo modelo do alemão foram descartadas ou reduzidas ao estatuto
de “dialetos”.
Um processo
semelhante ocorreu à Itália, cuja unificação foi concluída em 1870. Com efeito,
não havia nos habitantes dos vários Estados que retalhavam a península itálica
nada que os tornassem “italianos”. Todavia, um conjunto de ativistas, tal como
os seus equivalentes alemães, “utilizaram a reputação de textos escritos numa
língua que quase ninguém falava, para popularizar o mesmo género de proposta
(...).”[xi] A
língua a que hoje chamamos italiano estava praticamente morta: dos 22 milhões de
habitantes da península, somente cerca de 600 mil o compreendiam em 1860.[xii] Mesmo
os maiores escritores em italiano, como Alessandro Manzoni (1785-1873), tinham
mais fluência em francês.
Com efeito,
este modelo de construção nacional revelou-se extremamente exitoso na Europa –
e em seguida foi replicado com igual sucesso nos demais continentes. Na
América, como não havia o diferencial da língua em relação às metrópoles, foi
exigido ainda mais da literatura a construção de uma identidade diferenciada.
No Brasil, basta ver José de Alencar, às voltas com seus índios, sertanejos e
gaúchos, em seu empenho de configuração da identidade brasileira. Assim, da
ancestral Suméria à Itália unificada, passando por uma infinidade de povos,
impérios e nações, o arcabouço de atividades textuais a que chamamos literatura
foi de grande relevância para a coesão social de grandes entidades coletivas –
e na modernidade, junto com outros elementos, “criou” as nações modernas.
Notas
[1] Sobre o conceito de sistema-mundo (World System) cf. WALLERSTEIN, Immanuel.
Capitalismo histórico e civilização
capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.
[1] EVEN-ZOHAR, Itamar. O papel da literatura na criação
das nações da Europa. In: CUNHA, Carlos Manuel Ferreira da (ed.). Escrever a nação: literatura e nacionalidade
(uma antologia). Ponte Guimarães (Portugal): Opera Omnia, 2011, p.77-99.
Disponível em: <http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/IEZ_
2011--O%20Papel%20da%20Literatura.pdf > Acesso em: 12 fev. 2012.
[1] EVEN-ZOHAR.
[1] EVEN-ZOHAR,
p. 79.
[1] EVEN-ZOHAR,
p. 80.
[1] EVEN-ZOHAR, p. 81-82.
[1] EVEN-ZOHAR, p. 84-85.
[1] EVEN-ZOHAR, p. 90.
[1] EVEN-ZOHAR, p. 90-91.
[1] Jocosamente, Even-Zohar chama este conjunto de três itens
de package deal. Ibid., p. 91.
[1] EVEN-ZOHAR, p. 92.
[1] EVEN-ZOHAR, p. 93. Os dados são
retirados de MAURO, Tulio de. Storia
linguistica dell’Italia unita. Roma: Laterza, 1963. Somente em 1980 o
italiano tornou-se a língua falada pela maioria da população.
REFERÊNCIAS
EVEN-ZOHAR,
Itamar. O papel da literatura na criação das nações da Europa. In: CUNHA,
Carlos Manuel Ferreira da (ed.). Escrever
a nação: literatura e nacionalidade (uma antologia). Ponte Guimarães
(Portugal): Opera Omnia, 2011, p.77-99. Disponível em:
<http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/IEZ_
2011--O%20Papel%20da%20Literatura.pdf > Acesso em: 12 fev. 2012.
MAURO,
Tulio de. Storia linguistica dell’Italia
unita. Roma: Laterza, 1963.
WALLERSTEIN,
Immanuel. Capitalismo histórico e
civilização capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.
*Otto Leopoldo Winck nasceu no Rio de Janeiro, capital. Depois de uma
passagem por Porto Alegre, radicou-se em Curitiba. Em 2006 foi vencedor do
prêmio da Academia de Letras da Bahia, com o romance Jaboc, publicado no ano
seguinte pela editora Garamond. 2012 foi
o vencedor do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, na categoria
poesia, com o volume Desacordes. Doutor em literatura pela UFPR, leciona
atualmente na PUCPR e no Mestrado
em Teoria Literária da Uniandrade.
em Teoria Literária da Uniandrade.
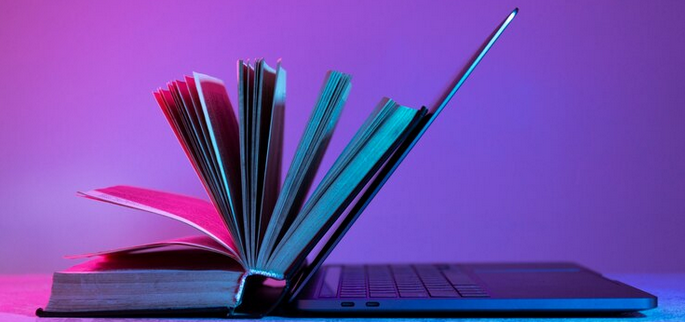
Nenhum comentário:
Postar um comentário