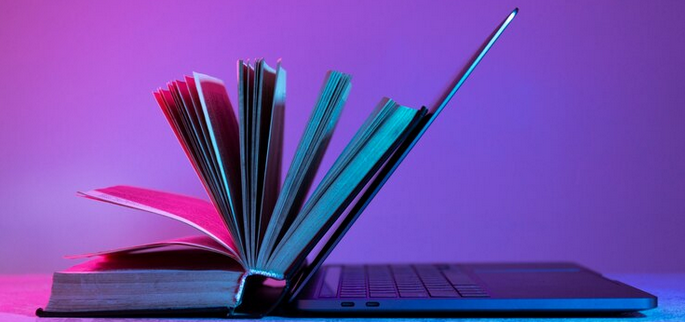Ambiência
e stimmung em “A queda da casa de
Usher”
Profa.
Dra. Greicy Pinto Bellin
UNIANDRADE
Exaustivamente lido e
relido ao longo dos anos como um clássico do conto de terror, “A queda da casa
de Usher” foi adaptado para o cinema sob o título de La Chute de la Maison Usher por Jean Epstein em 1928, e ilustrado
pelo britânico Harry Clarke, artista de grande destaque no movimento Arts and Crafts. Tanto as adaptações
quanto as interpretações do conto acabam por circunscrevê-lo em um simulacro de
horror, mistério e morte, só para citar a fórmula, em certa medida um clichê,
que permeia a leitura crítica de Poe. Tal leitura, ainda que involuntariamente,
negligencia aspectos materiais do conto que são fundamentais para a compreensão
da temática e para a construção do próprio efeito de horror tão comentado e
analisado pelos críticos. Com base nessa ideia, o objetivo desse artigo é
propor uma leitura materialista de “A queda da casa de Usher” a partir dos
conceitos de ambiência e stimmung
desenvolvidos por Hans Ulrich Gumbrecht, a fim de dedicar uma maior atenção a
esses elementos e revelar, sem exagero, o que se poderia chamar de faceta
materialista de Edgar Allan Poe.
Em primeiro lugar, cabe
uma definição dos conceitos que serão utilizados nessa análise, os quais
encontram desenvolvimento em Atmosfera,
ambiência, stimmung: sobre um
potencial oculto da literatura, de Hans Ulrich Gumbrecht, publicado no
Brasil no ano de 2014. Nele, o pesquisador alemão, conhecido por explorar as
possibilidades de uma análise não-hermenêutica da literatura, as quais envolvem
uma atenção maior dada à forma e à estrutura, propõe que os pesquisadores da
literatura como um todo voltem seus olhos para o stimmung, isto é, para sensações específicas induzidas por aspectos
materiais como a prosódia de um texto. A esse respeito, afirma Gumbrecht:
“Ler com a atenção voltada ao Stimmung”
sempre significa prestar atenção à dimensão textual das formas que nos envolvem,
que envolvem nossos corpos, enquanto realidade física - algo que consegue
catalisar sensações interiores sem que questões de representação estejam
necessariamente envolvidas. De outro modo, seria impensável que a declamação de
um texto lírico, ou a leitura em voz alta de uma obra em prosa, com ênfase na
componente rítmica, alcançasse e afetasse mesmo aqueles leitores ou ouvintes
que não compreendem a língua das obras em questão. De fato, existe uma
afinidade especial entre a performance e o Stimmung.
(GUMBRECHT, 2014, p. 14).
A proposta de Gumbrecht está
relacionada a um questionamento do foco exclusivo no modelo de leitura que
prioriza a interpretação nos textos literários, questionamento esse que, aliás,
movimenta o campo não-hermenêutico como um todo e desestabiliza a ideia segundo
a qual o texto literário seria, exclusivamente, produto de fatores sociais e
culturais. Não se trata, todavia, de excluir tais fatores da análise literária,
e sim de procurar outros enfoques e elementos que percebam o texto como produto
um artístico, independente das condições que lhe deram origem. Nesse sentido, a
ambiência, que corresponde, nas palavras de Gumbrecht, a “alguma coisa objetiva
que está em volta das pessoas e sobre elas exerce uma influência física”
(GUMBRECHT, 2014, p.12), também deve ser considerada, tendo em vista, até
mesmo, a importância da caracterização do espaço na literatura. Tal ambiência é
perceptível em “A queda da casa de Usher”, pois tanto a arquitetura da mansão
em decadência quanto a atmosfera do dia outonal e sombrio em que o narrador
chega ao solar são as responsáveis pela criação das sensações de horror nesse
mesmo narrador, as quais passam a afetar o próprio leitor ao longo de toda a
narrativa:
Durante todo um
pesado, sombrio e silente dia outonal, em que as nuvens pairavam opressivamente
baixas no céu, estive eu passeando, sozinho, a cavalo, através de uma região do
interior, singularmente tristonha, e afinal me encontrei, ao caírem as sombras
da tarde, perto do melancólico Solar de Usher. Não sei como foi, mas ao
primeiro olhar sobre o edifício invadiu-me a alma um sentimento de angústia
insuportável, digo insuportável porque o sentimento não era aliviado por
qualquer dessas semi-agradáveis, porque poéticas, sensações com que a mente
recebe comumente até mesmo as mais cruéis imagens naturais de desolação e
terror. (POE, 2001, p. 244).
É importante ressaltar que a sensação de melancolia e a “angústia
insuportável” são causadas pelo “primeiro olhar sobre o edifício”, o que remete
ao impacto de um componente arquitetônico sobre o espírito do narrador, impacto
esse que será reforçado pela visão efetiva da casa de Usher:
Desembaraçando o
espírito do que devia ter sido um sonho, examinei mais estreitamente o aspecto
real do edifício. Sua feição dominante parecia ser a duma excessiva
antiguidade. Fora grande o desbotamento produzido pelos séculos. Cogumelos
miúdos se espalhavam por todo o exterior, pendendo das goteiras do telhado como
uma fina rede emaranhada. Tudo isso, porém, estava fora de qualquer
deterioração incomum. Nenhuma parte da alvenaria havia caído e parecia haver
uma violenta incompatibilidade entre sua perfeita consistência de partes e o
estado particular das pedras esfarinhadas. Isto me lembrava bastante a
especiosa integridade desses velhos madeiramentos que durante muitos anos
apodreceram em alguma adega abandonada, sem serem perturbados pelo hálito do
vento exterior. Além deste índice de extensa decadência, porém, dava o edifício
poucos indícios de fragilidade. Talvez o olhar dum observador minucioso
descobrisse uma fenda mal perceptível que, estendendo-se do teto da fachada, ia
descendo em ziguezague pela parede, até perder-se nas soturnas águas do lago.
(POE, 2001, p. 246).
Logo mais descobriremos que a
decadência do edifício encontra-se em estreita e bizarra simbiose com a
decadência da própria família, a qual apresenta um componente biológico
expresso na existência de uma condição psiquiátrica peculiar, passada de
geração em geração, e nas insinuações de consanguinidade e incesto, as quais,
aliás, eram características das famílias aristocráticas europeias. A relação
entre a arquitetura da mansão e a evocação de sensações peculiares no narrador
pode ser novamente reforçada na passagem a seguir:
Havia um
enregelamento, uma tontura, uma enfermidade de coração, uma irreparável
tristeza no pensamento, que nenhum incitamento da imaginação podia forçar a
transformar-se em qualquer coisa de sublime. Que era – parei para pensar – que
era o que tanto me perturbava à contemplação do Solar de Usher? Era um mistério
inteiramente insolúvel; e eu não podia apreender as ideias sombrias que se
acumulavam em mim ao meditar nisso. Fui forçado a recair na conclusão
insatisfatória de que, se há, sem dúvida, combinações de objetos muito naturais
que têm o poder de assim influenciar-nos, a análise desse poder, contudo,
permanece entre as considerações além da nossa argúcia. (POE, 2001, p. 244).
O narrador atribui seu estado de
espírito a “combinações de objetos muito naturais que têm o poder de assim
influenciar-nos”, o que será reforçado paulatinamente na narrativa a partir da
constatação do estado de espírito de Roderick Usher, expresso na descrição do
físico decadente e assustador que serviria de base para a criação, anos depois,
do herói Des Esseintes de Às avessas,
de J. K. Huysmans:
Uma compleição
cadavérica; um olhar amplo, líquido e luminoso, além de qualquer comparação;
lábios um tanto finos e muito pálidos, mas de uma curva extraordinariamente
bela; nariz de delicado modelo hebraico, mas com uma amplidão de narinas
incomum em tais formas; um queixo finamente modelado, denunciando, na sua falta
de proeminência, a falta de energia moral; cabelos de mais tenuidade e maciez
que fios de aranha; tais feições e um desenvolvimento frontal excessivo, acima
das regiões das têmporas, compunham uma fisionomia que dificilmente se
olvidava. E agora, pelo simples exagero dos característicos dominantes desses
traços e da dança que não reconheci logo com quem falava. A lividez agora
cadavérica da pele e o brilho sobrenatural do olhar, principalmente, me
deixaram atônito e mesmo horrorizado. Também o cabelo sedoso crescera à
vontade, sem limites; e como ele, na sua tessitura de aranhol, mais flutuava do
que caía em torno da face, eu não podia, mesmo com esforço, ligar sua aparência
estranha com a simples ideia de humanidade (POE, 2001, p. 247).
A descrição detalhada da
aparência de Usher evoca a decadência e a fragilidade de toda uma estirpe,
corroborando a atmosfera sobrenatural da narrativa, bem como o stimmung de desagregação evocado a
partir da descrição da própria mansão, a qual, conforme descobriremos, mimetiza
a personalidade de Usher e de sua irmã Madeline:
Impressionou-me
logo certa incoerência nas maneiras de meu amigo, certa inconsistência; e logo
verifiquei que isso nascia de uma série de lutas fracas e fúteis para dominar
uma perturbação habitual, uma excessiva agitação nervosa. Na verdade, eu me
achava preparado para encontrar algo desta natureza, não só pela carta dele
como por certas recordações de fatos infantis e por conclusões derivadas de sua
conformação física e temperamento especiais. Seu modo de agir era
alternadamente vivo e indolente. Sua voz variava, rapidamente, de uma indecisão
trêmula (quando a energia animal parecia inteiramente ausente) àquela espécie
de concisão enérgica, àquela abrupta, pesada, pausada e cavernosa enunciação,
àquela pronúncia carregada, equilibrada e de modulação guturalmente perfeita
que se pode observar no ébrio contumaz ou no irremediável fumador de ópio
durante os períodos de sua mais intensa excitação. (POE, 2001, p. 248).
É
importante destacar, para a análise ora desenvolvida, a variação do tom de voz
observada pelo narrador, outro componente material que remete à fragilidade e
até mesmo, à histeria de Usher, atribuída, também, ao uso de ópio. O narrador
acaba por descobrir que Lady Madeline padece do mesmo mal que acomete o irmão,
sendo que sua presença física é causadora de sensações opressoras e
desconfortáveis:
Enquanto ele
falava, Lady Madeline (pois era assim chamada) passou lentamente para uma parte
recuada do aposento e, sem ter notado minha presença, desapareceu. Olhei-a com
extremo espanto não destituído de medo. E contudo achava impossível dar-me
conta de tais sentimentos. Uma sensação de estupor me oprimia, enquanto meus
olhos acompanhavam seus passos que se afastavam. Quando afinal se fechou sobre
ela uma porta, meu olhar buscou (...) a fisionomia do irmão. Mas ele havia
mergulhado a face nas mãos e apenas pude perceber que uma palidez bem maior do
que a habitual se havia espalhado sobre os dedos emagrecidos, através dos quais
se filtravam lágrimas apaixonadas. (POE, 2001, p. 248-249).
Com o desenrolar da
narrativa, o narrador vem a descobrir que aspectos materiais e arquitetônicos
conformam crenças sobrenaturais alimentadas por Roderick Usher, o que reforça a
relevância da caracterização do espaço como criadora e propulsora da extrema
sensitividade e sensibilidade do personagem:
Esta crença
(...) estava ligada (...) às cinzentas pedras do lar de seus antepassados. As
condições da sensitividade tinham sido aqui, imaginava ele, realizadas pelo
método de colocação dessas pedras na ordem de seu arranjo, bem como na dos
muitos fungos que as revestiam e das árvores mortas que se erguiam em redor,
mas, acima de tudo, na longa e imperturbada duração deste arranjo e em sua
reduplicação nas águas dormentes do lago. A prova (...) da sensitividade –
haveria de ver-se, dizia ele (...) na gradual ainda que incerta condensação
duma atmosfera que lhes era própria, em torno das águas e dos muros. O
resultado era discernível, acrescentava ele, naquela influência silenciosa,
embora importuna e terrível, que durante séculos tinha moldado os destinos de
sua família, e fizera dele, tal como agora o via, o que ele era. (POE, 2001, p.
251).
Alia-se
a isso o que o narrador chama de “estado mórbido do nervo acústico”, condição
peculiar experimentada por Usher e que o torna ainda mais suscetível às crenças
no sobrenatural, em especial aquelas relacionadas a devaneios artísticos
movidos a música, pintura e leitura de obras de filosofia, ciência e
misticismo:
Foram talvez os
estreitos limites a que ele assim se confinou na guitarra que deram origem, em
grande parte, ao caráter fantástico das suas execuções. Mas a fervorosa facilidade de seus impromptus não podia ser assim explicada. Eles devem ter sido – e
eram, nas notas bem como nas palavras de suas estranhas fantasias (pois ele
frequentemente se acompanhava com improvisações verbais ritmadas) – o resultado
daquela intensa concentração e recolhimento mental a que eu antes aludi,
observados apenas em momento especiais da mais alta excitação artificial. (POE,
2001, p. 250).
A
audição enquanto componente material adquire ainda maior relevância quando
Usher, após enterrar viva sua irmã Madeline, começa a ouvir barulhos sinistros
emanados do local do sepultamento, os quais consistem em claros indícios de que
ela havia sido enterrada ainda com vida. A intensidade dessas sensações atinge
seu auge no trecho a seguir, no qual a ambiência tempestuosa funciona como
complemento da angústia experimentada tanto pelo narrador quanto pelo próprio
Usher:
A fúria
impetuosa da rajada que entrava quase nos elevou do solo. Era, na verdade, uma
noite tempestuosa, embora asperamente bela, uma noite estranhamente singular,
no seu terror e na sua beleza. Um turbilhão, aparentemente, desencadeara sua
força na nossa vizinhança, pois havia frequentes e violentas alterações na direção
do vento e a densidade excessiva das nuvens (que pendiam tão baixo como a pesar
sobre os torreões da casa) não nos impedia de perceber a velocidade natural com
que elas se precipitavam, de todos os pontos, umas contra as outras, sem se
dissiparem na distância (...) as superfícies inferiores das vastas massas de
vapor agitado, bem como todos os objetos terrestres imediatamente em torno de
nós, estavam cintilando à luz sobrenatural de uma exalação gasosa, fracamente
luminosa e distintamente visível, que pendia em torno da mansão,
amortalhando-a. (POE, 2001, p. 254).
A audição é aspecto
fundamental para a articulação do terror experimentado por ambos os
personagens, especialmente a partir do momento em que o narrador inicia a
leitura de Mad Trist, de Sir Launcelot
Canning. Observam-se coincidências entre os tinidos do escudo de Etelredo, o
herói que derrota o dragão na narrativa de Canning, e ecos esparsos que
anunciam a volta de Lady Madeline, o que vai progressivamente reforçando a
ambiência de horror, mistério e morte que o retorno da morta-viva é capaz de
causar:
- Não o ouves?
Sim, ouço-o, e tenho-o ouvido. Longamente... longamente... muitos minutos,
muitas horas, muitos dias tenho-o ouvido, contudo não ousava...Oh, coitado de
mim, miserável, desgraçado que sou! Não ousava... não ousava falar! Nós a
pusemos viva na sepultura! Não disse que meus sentidos eram agudos? Agora eu
lhe conto que ouvi seu primeiro fraco movimento, no fundo do caixão. Ouvi-o faz
muitos minutos, muitos dias, e contudo não ousei... não ousei falar! E agora,
esta noite... Etelredo... ah, ah, ah!... o arrombamento da porta do eremita, e
o estertor de agonia do dragão, e o retinir do escudo! Diga, antes, o abrir-se
do caixão, e o rascar dos gonzos de ferro de sua prisão, e o debater-se dela
dentro da arcada de cobre da masmorra! Oh! Para onde fugirei? Não estará ela
aqui, dentro em pouco? Não estará correndo a censurar-me por minha pressa? Não
ouvi eu o tropel de seus passos na escada? Não distingo aquele pesado e
horrível bater de seu coração? Louco! (POE, 2001, p. 256-257).
Todas as sensações
experimentadas por Usher estruturam-se em torno do exercício de uma audição
aguda e extremamente ativa, a partir da qual ele identifica todos os movimentos
envolvidos no retorno da irmã, o que lhe causa grande horror, pois ele fora o
responsável pelo seu enterro prematuro. O ápice do terror se observa com o
desabamento da estrutura arquitetônica que havia provocado a insanidade e os
tormentos sobrenaturais de Usher, corroborando a relação simbiótica entre
espaço, ambiência, stimmung e loucura
absoluta:
Enquanto eu a
olhava, aquela fenda rapidamente se alargou... sobreveio uma violenta rajada do
turbilhão... o inteiro orbe do satélite explodiu imediatamente à minha vista...
meu cérebro vacilou quando vi as possantes paredes se desmoronarem... houve um
longo e tumultuoso estrondar, semelhante à voz de mil torrentes... e o pântano
profundo e lamacento, a meus pés, fechou-se, lúgubre e silentemente, sobre os
destroços do “Solar de Usher”. (POE, 2001 p. 257).
O desmoronamento da
mansão é, por si só, um espetáculo material, conduzindo à destruição
irremediável do clã dos Usher. Não seria exagerado, dessa maneira, afirmar que
o conto de Poe, para além das leituras que o percebem como representativo de
uma literatura de horror, possui uma faceta materialista cuja exploração se
revela fundamental para a compreensão dos mecanismos de produção do próprio
sentimento de horror e da criação deste mesmo horror ao longo do processo de
leitura. Com base nessa ideia, também não seria equivocado afirmar que “A queda
da casa de Usher” proporciona a experiência estética que não apenas remeteria à
experiência fin-de-siècle que seria
explorada pelo movimento decadentista, mas também à maestria do próprio Poe
enquanto artista de vanguarda.
Referências
GUMBRECHT, Hans Ulrich. Atmosfera, ambiência e stimmung: sobre
um potencial oculto da literatura. Trad. Ana Isabel Soares. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2014.
HUYSMANS, J. K. Às avessas. Trad. José Paulo Paes. São Paulo: Companhia das Letras,
2011.
POE, Edgar Allan. Obra completa. Trad. Oscar Mendes. Rio
de Janeiro: Nova Aguilar, 2001.