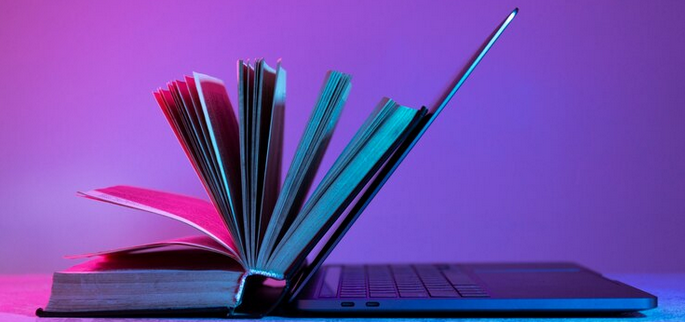Insuficientemente versada na literatura indiana em língua inglesa, após breves pesquisas sobre Salman Rushdie e V.S. Naipaul, encontramos em Rukmini Bhaya Nair, poeta, historiadora cultural, filósofa da linguagem e crítica literária indiana, guia dotada de discernimento para deslindar a complexidade da cultura e da produção literária do subcontinente no século XXI. Sua conferência −The Counterfactual Course of Literature: India as an Imaginative Space in the Writings of José Saramago (2015), na UNESP de São José do Rio Preto, pôs em evidência o conhecimento profundo da pesquisadora na ciência da literatura e a sensibilidade artística da escritora. A razão de ser central da ficção, argumentou a conferencista, é experimentar com as convenções e construtos de “dizer a verdade”. Os escritores pós-coloniais, em particular, tentam vigorosamente subverter as verdades que lhes são apresentadas pela história convencional. Nesse aspecto, gêneros literários, como o romance pós-colonial, oferecem relatos desafiadores que redefinem contornos e vêm lançar luz sobre verdades ocultas nas entrelinhas da história.
Rukmini Bhaya Nair é um desses escritores: utiliza-se da língua inglesa para escrever poesia e ficção narrativa, além de ensaios sobre teorias da literatura e da linguagem; para ministrar aulas e proferir palestras no circuito acadêmico global. Seu romance Mad Girl’s Love Song, caso exemplar das contradições que assombram o sujeito pós-colonial, mergulha a fundo na herança traumática do colonialismo. Na coletânea de ensaios Lying on the postcolonial couch. The Idea of Indifference, discute com clareza o reflexo de problemas sociopolíticos e culturais na literatura que se produz na Índia pós-independência. Vê a pós-colonialidade como uma condição psíquica hereditária, cujo tratamento requer o retorno às memórias enterradas do trauma colonial: “A pós-colonialidade”, afirma, “aguarda ser relegada ao esquecimento. Nesse sentido, como todo fenômeno histórico, seu destino é ser confiada à memória, em seguida a instituições e daí ao esquecimento” (NAIR, 2002, p. xi). É tarefa da literatura: recuperar a verdade do dito.
Com o objetivo de
compreender a perspectiva interna de Nair sobre colonialismo, como ilustrativa
daquela do escritor pós-colonial indiano radicado na própria terra, analisei
sua visão do papel da literatura na Índia de hoje, veiculada em seus ensaios. que cobrem questões diversas: a escrita da
história do subcontinente indiano, da perspectiva subalternista; a absoluta
necessidade do conhecimento entre os indianos da herança pesada do colonialismo
em seu próprio território e no de outros povos colonizados; e a luta contra os traços perniciosos da
indiferença colonial em relação aos governados, que prevalece nas instituições
governamentais da Índia do século XXI.
Ranajit Guha, um dos fundadores dos
Subaltern Studies, argumenta que os
“instrumentos da historiografia convencional focalizam grandes eventos e
instituições do passado . . . uma tradição que tende a ignorar os pequenos
dramas e detalhes da existência social, especialmente nas camadas mais baixas”
(GUHA, citado em GOPAL, 2004, p. 139). Um dos meios de resgatar tais pequenos
dramas, conforme demonstra Bhaya Nair no ensaio “O pedigree do corcel branco.
Pós-colonialidade e História Literária”, seria estabelecer paralelos entre a
visão de escritores contemporâneos sobre as multidões anônimas que povoam sua
obra de ficção. É mais que evidente a intertextualidade entre os romances Kim, do escritor anglo-indiano Rudyard
Kipling e Gora, do indiano brâmane
Rabindranath Tagore, embora nenhum dos autores faça referência sequer à
existência de seu contemporâneo.
Embora a Índia fosse, na época das primeiras tentativas
de intrusão dos ingleses, uma civilização mais desenvolvida em todos os
aspectos que a europeia, o inglês viria a tornar-se a língua oficial da
intelectualidade indiana, não apenas em decorrência da força militar do
colonizador, mas de barreiras linguísticas internas. Mesmo depois da
independência, em 1947, membros das classes mais elevadas, órgãos
governamentais e alguns escritores continuam a utilizar-se da língua inglesa
como instrumento de comunicação.
É ilustrativa a publicação em 1997, em
comemoração ao cinquentenário da independência, de The Vintage Book of Indian Writing, antologia de contos de autores
indianos, escritos em inglês, editada por Salman Rushdie e Elizabeth West. A
antologia foi recebida na Índia por críticos e escritores indianos com
protestos de indignação. Provocou revolta, especialmente, a afirmativa de
Rushdie de que a escrita em inglês, particularmente em prosa, produzida por
autores indianos nos últimos cinquenta anos é “não apenas um corpo de produção
literária mais forte e importante que a maior parte do que se produziu nas 16
‘línguas oficiais’ da Índia,” mas representa “a mais valiosa contribuição feita
até aqui pela Índia para o mundo dos livros.” Para Rushdie, mesmo que a escrita
indo-anglicana seja em parte produto das forças do mercado ocidental, é também
sinal de criatividade literária e, por extensão, de saúde cultural (RUSHDIE;
WEST, 1997, p. x).
U.R. Ananthamurty, importante
romancista em língua kannada, declarou-se chocado de que um escritor criativo
como Rushdie falasse com tanta arrogância. “Nenhum escritor indiano em nenhuma
das línguas pode ter a pretensão de saber o que está acontecendo nas outras
línguas indianas. Rushdie sequer vive na Índia. Como é que pode fazer
julgamento tão disparatado?” (ANANTHAMURTY, citado em HUGGAN, 2001, p. 64).
A análise que Rukmini Bhaya Nair
faz do episódio ilustra as múltiplas vertentes de uma questão complexa.
Admiradora incondicional de Salman Rushdie – pertencente ela mesma à geração a
que denomina pós-Midnight’s Children – Bhaya
Nair examina com isenção as reações favoráveis e desfavoráveis às declarações
provocadoras de Rushdie.
É necessário
voltarmos, a princípio, à ideia de indiferença, subtítulo da coletânea de
ensaios Lying on the Postcolonial Couch, enfocados
neste trabalho. Indiferença é o nome
que a autora atribui à violência sem rosto que domina o período do Raj
(1836-1947) que iniciou e sustenta o mito de uma nação indiana monolítica.
Indiferença seria, então, a tentativa das instituições do governo colonial
britânico de apagar diferenças de
estilo, opinião e cultura na área geográfica do subcontinente indiano.
Facilitava a governabilidade considerar como um único país o que era na
realidade um conglomerado cultural frouxo, premissa que Nehru, Patel, Gandhi e
outros internalizaram a fundo na era da independência pós-1947. Ironicamente,
observa Nair, para adotar o aparelho burocrático britânico, os heróis
fundadores adotaram também a política de considerar uma Índia diversificada
como um país único. “Os mais caros objetivos utópicos da recém-independente
nação indiana foram, assim, articulados e administrados através da visão
homogeneizante imposta por seus patrões coloniais” (NAIR, 2002, p. 226).
Na euforia da construção de uma
nação independente, a concepção utópica de uma Índia una prevaleceu no período
de 1947 até 1967, quando foi abalada por uma série de disputas sangrentas entre
grupos fundamentalistas religiosos, particularmente hindus e muçulmanos, que
puseram em xeque a utopia nehruviana.
O cronista mais relevante dessas
transições da condição de nação do sonho para a vigilância seria Salman Rushdie,
“um líder alegorista nacional” (...) “Sempre sincero no que diz respeito a seu
papel histórico, por exemplo, declara abertamente sua posição como alguém que
representa toda a diáspora indiana” (NAIR, 2012, p. 227).
Somos indianos, mas existe redefinição. A Índia tem de admitir agora que
há diferentes maneiras de ser indiano, que não têm a ver necessariamente com
estar enraizado na Índia. É maravilhoso e excitante perceber isso. É uma
espécie de percepção libertadora. É uma espécie de coisa nova. (India Today) (RUSHDIE, citado em NAIR,
2012, p. 227)
O esforço corajoso de Rushdie para
mudar modos rígidos de pensar e agir, no entanto, não é aceita por quem
preferiria não ter suas práticas culturais tradicionais assaltadas. Causou
celeuma internacional a fatwa
declarada contra Rushdie pelos aiatolás iranianos, que o condenaram à morte em
virtude das blasfêmias contra o Alcorão, nos ficcionais Versos satânicos. Diante desse embate, Nair se pergunta: “Podemos
finalmente chegar a alguma conclusão sobre qual é o direito fundamental – o
direito de falar ou o direito de censurar?” Rushdie parece ter um gênio todo
especial para fazer com que seus livros sejam censurados, banidos ou queimados
ou, simplesmente, para causar polêmicas, a exemplo das reações contrárias
suscitadas pela coletânea comemorativa. Como diz Rukmini,
Rushdie representa “confusão” no inconsciente coletivo da nação. Aquele
movimento espasmódico mental, semelhante ao do joelho, com que respondemos cada
vez que Rushdie bate habilmente em alguma superfície saliente é evidência
disso. Rushdie está, por assim dizer, em nossos ossos, ou de qualquer maneira,
possui conhecimento acurado e invejável da anatomia do subcontinente. (2002, p.
238)
Rukmini vê como saudável a
preocupação constante de Rushdie, como cidadão indiano da diáspora, com os
rumos da política na Índia e o crescimento da intolerância no país. Diante do
sucesso e repercussão ampla da narrativa de ficção de Rushdie, a organização da
coletânea tem importância menor. Tanto O
último suspiro do mouro como The
Ground beneath her Feet, romances de Rushdie que registram a maioridade da
Índia moderna, constituem-se em elegias para o passado de sonho
neruhviano. A coletânea é algo menor, “sua
Comédia dos enganos, não o seu Lear. Por que, então, damos tanta
importância a este mero esvoaçar de Rushdie?” (NAIR, 2002, p. 238)
A gramática do pós-colonial
A gramática do pós-colonial,
afirma Bhaya Nair, é revelada de maneira muito mais interessante por meio dos
textos literários. Isso porque a literatura, por sua própria natureza nos traz
“universos, personagens, histórias e geografias ‘contrafactuais’ que por
definição, não existem nos cenários observáveis ao nosso redor, ou os alteram
de modos sutis e significativos” (NAIR, 2016).
Na perspectiva pós-colonial, a literatura pode ser vista como
uma espécie de sub-história, pois trabalha com experiências não diretamente
acessíveis aos historiadores, mas importantes para alguns tipos de registro histórico.
A diferença está em que a literatura exige a capacidade de ler nas entrelinhas.
Coerentemente, a historiografia subalternista se utiliza das ferramentas da
narratologia desenvolvidas na linguística e nos estudos literários: análise de enredo,
personagem, linguagem, autoridade, voz e tempo
No ensaio “O pedigree do corcel
branco”, Nair propõe respostas para a questão. Um modo de recuperar a história das multidões anônimas da Índia, ignoradas
pela história oficial, sua subjetividade não registrada, seria o estudo
das estratégias de representação de romances contemporâneos como Kim, o clássico de Rudyard Kipling e Gora, de Rabindranath Tagore.
Embora de importância relativa, são
notáveis os paralelos entre a história de vida dos dois autores. Ambos nasceram
em famílias burguesas em metrópoles indianas e tiveram trajetórias de vida
semelhantes: Tagore (1861-1941) em Calcutá e Kipling (1865-1936) em Bombay.
Kipling, evidentemente, é identificado com o apogeu do império, enquanto o
tempo de vida de Tagore é quase equivalente ao do domínio imperial britânico na
Índia (1858-1947). Foram agraciados com o Nobel de literatura, com poucos anos
de diferença, Kipling em 1907 e Tagore em 1913. Rukmini enfatiza que existe
pouquíssimo nas respectivas biografias oficiais indicando que um sabia da
existência do outro, porém as obras-primas dos dois autores escolhem
curiosamente o mesmo motivo: enjeitados irlandeses criados como indianos.
O herói de Kipling, Kim, o menino
“dos bazares quentes e cheios de gente .... [onde se mistura] a pressão de
todas as raças da Índia Superior” é uma metonímia da multidão anônima, que ele
conhece muito bem.
De qualquer maneira, a leitura do
romance de Kipling traça um retrato vivo dos tipos com quem Kim convive em sua
existência errante, alimentando-se com os mendigos, esgueirando-se por vielas
escuras e correndo pelos telhados. Disse-se dele que é o melhor romance sobre a
Índia − escrito por um inglês. O julgamento irônico e paradoxal estende-se a Gora, visto como o melhor romance nacionalista,
escrito por um ardente antinacionalista, conforme enfatizado por Bhaya Nair.
Embora tenha imenso orgulho do pai,
soldado de um regimento irlandês do exército britânico, repete-se em Kim o consórcio com figuras paternas –
seu mentor inglês nas intricadas manobras de espionagem, e Babhu, o monge.
Gora, em contraste, ignora sua
verdadeira origem e acredita que o hinduísmo tradicional é a resposta ao
sofrimento das massas subjugadas, sem perceber que o sistema de castas é tão
discriminatório quanto o domínio estrangeiro. O verdadeiro adversário
de Gora, afirma Bhaya Nair, é a critica racista da cultura indiana pelos
colonialistas, atitude que é imitada pelas classes altas da sociedade indiana
na relação com os estratos sociais inferiores. Muitos dos assuntos discutidos
em Gora – população, pobreza rural, o
sistema de castas, divisões nas comunidades, responsabilidade educacional, a
relação com o pensamento ocidental – constituem até hoje assuntos polêmicos da
política indiana. São fantasmas aparentemente vencidos numa democracia moderna.
A pergunta de Rukmini, ainda em “O pedigree ...” faz-nos pensar:
De que outra maneira a não ser
pelos caminhos da ficção poderia um membro das classes dominantes − o termo se
aplica tanto a Kipling como a Tagore −
conseguir alcançar os fantasmas vencidos que, como membro honroso da
comunidade, tem aparentemente o dever de suprimir. (2002, p. 49)
Voltando a Rushdie, parece-nos que,
nem mesmo utilizando-se da ficção, o escritor consegue desenterrar fantasmas
sem despertar a ira de seus conterrâneos.
Em diferentes contextos
pós-coloniais – na Ásia ou na África – escritores e artistas lutam com memórias
fantasmagóricas do passado da “outra” cultura que os dominou, o que confere a
seu trabalho certas semelhanças, uma espécie de “semelhança familiar”, um
idioma híbrido partilhado, comenta Nair em nossa correspondência por e-mail.
Isso nos traz ao mecanismo da intertextualidade que seria própria do contexto
pós-colonial, desenvolvido magistralmente por Rukmini em Mad Girl’s Love Song. (Ver artigo publicado na Scripta Uniandrade , vol.14, n 1 (2016)
O pedigree do corcel branco é uma
mensagem crucial em código que Kim deve repassar a um inglês, que aguarda a
comunicação para executar um plano de guerra. Rukmini argumenta que esse
código, ainda não decifrado, seria a relação entre o patriarcado do império e a
confusão ao redor de ancestralidade e pedigree.
Considerações
finais
Pela
mão firme de Rukmini Bhaya Nair foi-me possível compreender um pouco da
vastidão linguística e cultural e da história da Índia. Mais do que isso,
julgar com isenção de espírito tendências e correntes opostas na historiografia
e na crítica literária, tanto no subcontinente como em âmbito global.
Aprendi
a estabelecer paralelos entre as (des) aventuras do Kim de minha imaginação
infantil e textos da literatura indiana, como Gora de Tagore, que não me
haviam ocorrido, por absoluta falta de conhecimento. Eu não dispunha, nas
palavras de Nair, da base epistêmica indispensável para a apreciação de
coincidências, anedotas e, por extensão, amontoados intertextuais.
Guiada
por Rukmini, tornei-me leitora apaixonada de Derek Walcott e passei a ver com
novos olhos a epopeia da humanidade rumo a incontáveis perigos, situada, possivelmente
nas ilhas do Caribe. A dedução que faz, por meio da leitura e análise do Omeros
de Walcott, da existência de uma teoria sensorial de sete pontos, amplamente
aplicável a escritores pós-coloniais como um todo, fornece rumos para a apreciação de sua literatura, em qualquer
circunstância geográfica, linguística, étnica ou cultural.
O estilo de Rukmini é uma inspiração, especialmente
quando defende os princípios básicos de seu argumento maior: a necessidade de
exorcizar os males do colonialismo penetrando nas profundezas da consciência
coletiva, antes que se transformem em mera referência histórica irrelevante.
Heterocósmico em seus primórdios, o
colonialismo prenuncia seu fim como miscelânea pós-colonial. Entre essas duas
pontas esgarçadas do império encontra-se uma violência sem rosto que iniciou e
sustenta o mito de uma nação indiana monolítica. (2002, p. 226)
A violência sem rosto encarna-se na
indiferença daqueles que detêm o poder e estabelecem regras a serem obedecidas
ao pé da letra por multidões, que não as compreendem e cujas necessidades não
são consideradas. Agradeço a Rukmini o incentivo para defender argumentos que
beneficiam a coletividade.
Referências
GOPAL, P.
Reading subaltern history. In: LAZARUS, N. (Ed.) The Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies. Cambridge:
Cambridge Un Press, 2004. p. 139-160.
HUGGAN, G. The Postcolonial Exotic. Marketing the
Margins. London & New York: Routledge, 2001.
LAZARUS, N.
(Ed.) The Cambridge Companion to
Postcolonial Literary Studies. Cambridge: Cambridge Un Press, 2004.
NAIR, R.B. Lying on the Postcolonial Couch. The Idea
of Indifference. Minneapolis: Un. Of Minnesota Press, 2002a
_____ . Mad Girl’s Love Song. India:
HarperCollins, 2013.
____ .Poetry in a Time of Terror. Essays in
the Postcolonial Preternatural. New Delhi: Oxford Un. Press, 2009
RUSHDIE, S.; WEST, E. (Eds.) The Vintage Book of Indian Writing 1947-1997.
Great Britain: Vintage, 1997.