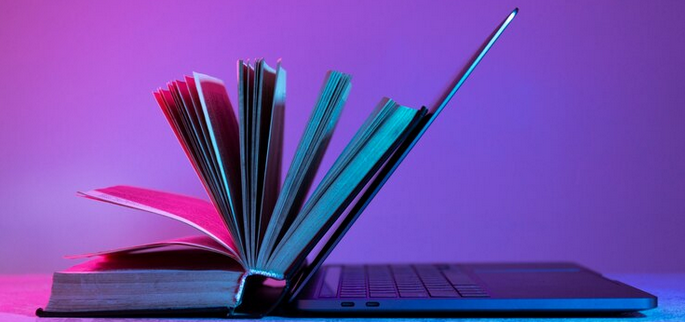Paulo Sandrini*
Juan Rulfo
Em 1955, surge o romance de um (até então) obscuro
escritor mexicano de Jalisco, Juan Rulfo. A obra: Pedro Páramo. Dois anos antes,
Rulfo havia publicado o livro de contos El
llano en llamas, que passou despercebido pela crítica. Mais tarde, com o
êxito de Pedro Páramo, a
coletânea de contos seria redescoberta. Depois dessas duas publicações, a
produção literária do escritor de Jalisco seria praticamente nula. Em 1980,
voltou a publicar um conjunto de relatos sobre cinema chamado El gallo de oro. E foi só; no
entanto, o suficiente para deixar marcas contundentes nas letras ocidentais.
Pedro Páramo é um romance curto. No entanto, de
densidade incomum e leitura difícil. Tal dificuldade é ainda proporcionada pela
escassez de dados biográficos que se possui sobre o autor, cuja vida, neste
caso, tanto condiciona a obra. Durante a infância, sabe-se que Rulfo presenciou
o aniquilamento de sua família pela rebelião dos cristeros. Anos depois, o
escritor apontou em uma entrevista que o que primeiro conheceu em sua vida foi
a devastação, humana e geográfica, muito precisa e localizada em sua terra
natal. O autor transporta tal experiência pessoal para a criação do fantasmal
espaço de Comala, povoado habitado por mortos, árido e abandonado no tempo.
Comala, então, passa a ser uma espécie de alegoria do inferno, em que, tal como
na Divina Comédia de Dante, se perde toda a esperança ao
se entrar ali. Juan Preciado, narrador de grande parte do romance, chega a esse
inferno guiado pelo muleiro Abundio e segue em busca de cumprir uma promessa
feita a sua mãe, já morta, que é a de encontrar seu pai, Pedro Páramo. Em
Comala, Preciado descobre a face selvagem dessa espécie de cacique que foi seu
pai. No decorrer da obra, Preciado compreende que todos os seus interlocutores
até então, incluindo o muleiro, estão mortos. Ele mesmo divide uma sepultura
com outra personagem. E dali, de sua tumba, assistirá ao desenlace da história
em que Pedro Páramo acaba assassinado. Nessa obra, vida e morte não se
distinguem. Sua atmosfera angustiante tem por base a mescla da realidade e do
sobrenatural, o que coloca o leitor com a sensação de que o mundo e as ações
humanas fogem a todo intento de explicação racional.
Com base em sua
história pessoal e familiar, Juan Rulfo nos mostra crer em um destino fatal e
absurdo que marca o percurso de todo homem, sendo impossível fugir a esse
destino. Como consequência, engendra um tempo circular, em que começo e fim se
confundem e a alteração cronológica dos eventos (monólogos copiosos e uma
utilização inovadora no uso da linguagem) faz dessa narrativa uma obra
revolucionária. Narrada em espécies de sussurros, é devedora mais da tradição
oral do folclore mexicano e de seu culto à morte do que dos modernos
romancistas, que Rulfo confessou jamais ter lido.
Pedro Páramo é também a história de um homem em busca de sua identidade,
engendrada por uma espécie de confusão temporal e narrativa para exemplificar
vários temas latino-americanos. Por exemplo, o patriarcado e o caciquismo, a
crise de identidade e a obsessão com a morte típica do povo mexicano. É uma
interpretação bem realizada e singular da revolução mexicana, podemos ainda
inferir.
Contudo, é
possível detectar em Rulfo uma fundamentação que se pretende universalista, o
que se verifica em suas opções literárias. Rulfo se voltará, como leitor, à
produção da periferia europeia, sobretudo da zona nórdica (Noruega, Suécia,
Dinamarca, Finlândia e Islândia), correspondente a dois períodos sucessivos: o fim
do século XIX e o começo do século XX e o posterior entre guerras. Do mesmo
modo, se voltará à produção sulista estadunidense, representada por William
Faulkner, em detrimento da linha literária mais urbanizada e industrializada de
Nova Iorque, que apresenta os movimentos vanguardistas e a narrativa de Ernest
Hemingway. Em 1959, Rulfo confessa ao escritor e ensaísta José Emílio Pacheco
que as escolas alemã e nórdica dos princípios do século passado, que criaram
uma realidade e uma perspectiva social baseadas no voo da imaginação, são suas
preferidas. Rulfo leu Sillanpää, Bjornson, Hauptmann e o
primeiro Hamsun. Nesses,
diz Rulfo, achou as bases de sua literatura. Em 1974, confessa que Hamsun o
levou a planos desconhecidos, a um mundo brumoso, que o apartou de certo modo
da situação de intensa luminosidade mexicana. Hamsun foi, em realidade, já na
juventude de Rulfo, o princípio de contato com esse tipo de literatura. Depois,
o autor mexicano buscou outros autores, como os citados anteriormente,
acrescentando a sua lista Jens Peter Jacobsen, Selma Lagerlöf e também uma
grande descoberta pessoal: Halldór Laxness, bem antes que esse autor islandês
ganhasse o Nobel, em 1955.
Rulfo passa a
propor então o encontro entre um estilo de escrita preponderantemente realista
e a imaginação dada ao irreal. E além da filiação de sua narrativa a essas
influências nórdicas, é necessário reconhecer que elas pertencem a situações
culturais muito parecidas às que vivenciou o escritor mexicano, que assim como
os escritores nórdicos sentiu-se submetido ao processo de adaptação urbana, nos
anos quarenta e cinquenta, enquanto construía sua trajetória literária — uma
adaptação compartilhada com enormes populações rurais. Qual Fome (1890), de Hamsun, poderíamos
considerar Pedro Páramo uma espécie de resposta à
modernização. O romance do norueguês é um livro diferente dos paradigmas do
período, pois o autor se mostra um crítico ferrenho do Realismo e do
Naturalismo, criando, como Rulfo e antes dele, uma obra de vanguarda, com
componentes inéditos e atravessada por paradoxos que a fazem mordaz e ao mesmo
tempo não isenta de um traço divertido. De fundo autobiográfico, Fome é um romance narrado por um personagem
inteligente, mas que por motivos que não se desvelam acaba por viver na miséria,
sempre faminto, sofrendo diversos reveses em seu périplo pela cidade de
Christiania (hoje, Oslo), e sempre em busca de alimento. As divagações a
respeito da condição humana e da sua própria situação são construídas a partir
de um individualismo quase extremo. Tudo passa pelo seu crivo, por vezes de
modo irônico, por vezes de modo crítico e por vezes desdenhosamente. Há uma
alternância que vai da lucidez à insensatez. O personagem é quase ao mesmo
tempo cômico, preocupado, sério e sagaz. As invenções estéticas e temáticas de
Hamsun viriam, mais tarde, a influenciar os modernistas em sua revolução
artística.
Pedro Páramo é a história de uma busca frustrada e, assim como a
narrativa de Hamsun, carrega traços biográficos. A técnica narrativa é
desconcertante. Na primeira parte, tem-se a narração em primeira pessoa de Juan
Preciado, que é ampliada e amplificada com os relatos também em primeira pessoa
de Eduvirges. Há ainda a narração em terceira pessoa, com monólogos interiores
diretos de Pedro Páramo, engendrando uma situação em que quase não há distância
entre o narrador e o personagem. Também, a narração em terceira pessoa, a
partir de um ponto de vista onisciente.
A inversão da
ordem cronológica, fazendo o que ocorre ser explicado somente mais tarde,
converte a obra em espécie de quebra-cabeças. Ao leitor (como em Rayuela, de Cortázar, La muerte de Artemio Cruz, de Fuentes, ou La casa verde, de Llosa) não
resta mais alternativa que a de deixar de lado sua normal passividade de
simples receptor para que possa reconstruir para si mesmo o fio que conduz o
romance.
Por outro lado,
contrariando também a teoria sobre ser Pedro
Páramo um romance cujo tema
central seria mesmo (ou apenas) a revolução, Donald Shaw expõe, em seu Nueva narrativa hispano-americana,
a ideia de que ao nos empenharmos em descobrir o sentido oculto da aparente
desordem que nos é oferecida no romance, o método mais fácil é abandonar o já
sabido, neste caso o conceito de caciquismo. Com isso, passa-se sem dificuldade
ao problema do latifúndio, dos abusos de autoridade (inclusive por parte do
governo mexicano), da corrupção do clero e, por fim, chega-se à ideia do
fracasso da Revolução Mexicana. Mas Shaw não deixa de expor uma dúvida: como se
explica um episódio tão enigmático como o do casal incestuoso? Caberia aceitar
sem mais nem menos que a irmã, a única mulher em todo o livro de quem não
sabemos o nome, cumpre o papel de símbolo da pátria corrompida, segundo propõe
o crítico nacionalista Ferrer Chivite? E o que dizer do irmão?
A ideia de Ferrer
é pouco convincente para Shaw. Com vista a aclarar o significado do episódio,
temos que recordar quantas vezes, na nova narrativa, nos deparamos com a
inversão dos mitos cristãos, encontrados em El
Señor Presidente, de Astúrias; no Informe
sobre ciegos, de Sábato; e em El
lugar sin límites, de Donoso, e ainda nas evidentes referências bíblicas de Cien años de soledad, de Márquez, ficando aqui nos
exemplos mais óbvios. Nesse caso, como apontou Fuentes, trata-se do casal
edênico: Adão e Eva. Um Adão e uma Eva bestiais, sem prole, que jamais tomaram
conhecimento de um Paraíso, muito menos de um deus bondoso. Ao contrário, vivem
desde sempre desesperançados, em um inferno, regidos por um ente todo-poderoso,
mas cruel. Ao entrarmos mais fundo nesse caráter mítico do romance, podemos
reconhecer, segundo Octavio Paz e Julio Ortega, que a busca de Juan Preciado é
a busca de um Paraíso perdido e de um Pai Todo-Poderoso. Termina com o
desengano total de Juan e o assassinato simbólico do Pai por outro filho (bastardo).
Com isso, podemos compreender também que Pedro
Páramo contém, na verdade,
uma alegoria, mas não da vida mexicana somente. Rulfo alegoriza a peregrinação
do homem na terra. A busca de um paraíso perdido apenas desvela um inferno
povoado de mortos e um casal Adão e Eva degradados. Mesmo a morte não oferece
descanso. Segue-se sempre sofrendo, expiando uma culpa que não se sabe
exatamente qual é. Nesse romance tudo é opressão: física, espiritual. Só há um
elemento positivo, que é o amor sensual, pagão, entre Susana San Juan e o
marido Florencio. O amor triunfa sobre a morte física, a culpa e sobre o
próprio inferno. Portanto, se quisermos explicar o grande êxito literário de Pedro Páramo, temos mesmo que
interpretar o romance em termos universais, fazendo sua devida relação com a
desorientação espiritual do homem moderno.
*Professor do Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade.
Escritor e Doutor em Letras.