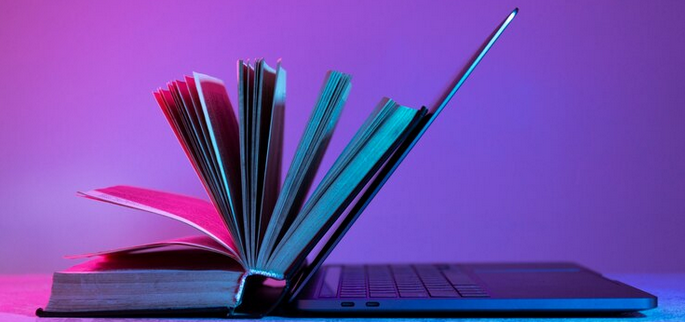SOBRE LITERATURA E
CINEMA
Verônica Daniel Kobs*
Umberto Eco, que, em vários textos, analisa o parentesco entre cinema e
literatura, falando sobre a obra de Manzoni, em seu livro Seis passeios pelos bosques da ficção, escreve: “Não venham me
dizer que um escritor do século XIX desconhecia técnicas cinematográficas: ao
contrário, os diretores de cinema é que usam técnicas da literatura de ficção.”
(ECO, 1994, p.77). Tal citação, ao mesmo tempo que menciona a ligação entre as
duas artes, coloca a literatura como pioneira na utilização de recursos que
serão, também, usados pelo cinema. É claro que isso se deve ao fato de a
literatura ser muito mais antiga que o cinema, arte extremamente nova.
Há autores que são radicais ao defenderem a supremacia da literatura em
relação ao cinema. É o caso de José Martínez Ruiz, que afirma, categoricamente:
“El cine es literatura, si no es literatura, no es nada.” (CARDOSO, 2005, p.
1). Essa citação desconsidera filmes que não surgiram de obras literárias, ou
seja, que não são adaptações. No entanto, pode-se compreender tão enfática
afirmação, se for considerada a semelhança entre as estruturas das narrativas
literária e fílmica.
Em contrapartida, há críticos que se opõem ao estabelecimento de uma
relação tão estreita entre cinema e literatura. É o caso de Sylvio Back, para o
qual a relação entre essas artes é “conflituosa”, porque “cinema é
visibilidade; literatura é invisibilidade” (BACK, 2005, p. 1). O cineasta vai
mais além ainda, rejeitando a possibilidade de comparação entre livros e filmes
e afirmando: “Quanto maior a traição, melhor o resultado.” (BACK, 2005, p. 1).
Porém, se o intento é dedicar-se ao cinema, considerado por ele um tipo de arte
totalmente avesso à literatura, por que usar o texto literário como base? É possível
fazer roteiros bastante originais, sem o texto literário servir como
matéria-prima, como bem exemplificam os filmes de Glauber Rocha, por exemplo, e
tantos outros.
Para se ter idéia de quão antiga é a utilização que o cinema faz dos
textos literários, basta atentar para o fato de que A gata borralheira virou filme, em 1868. Esse processo de
transposição de uma arte à outra ganhou maior relevo em 1908, com a criação da
Sociedade de Filmes de Arte, que, por sua vez, tinha como principal meta reagir
aos modelos ou às fórmulas para se fazer filmes. A saída era, então, investir
nas adaptações. Dessa forma, os filmes não seriam previsíveis, nem similares.
Porém, o desafio da adaptação era, e ainda é, pensar em soluções para transpor
o material literário para as telas, da melhor forma, pensando, inclusive, que o
cinema dispõe de recursos que não são acessíveis à literatura e vice-versa.
Essa relação entre literatura e cinema intensifica-se dia após dia, o que
pode ser comprovado não só pelas inúmeras adaptações de obras literárias para o
cinema, mas também pela criação do Projeto PIC-TV — Programa de Integração
Cinema e TV, que estreou com a adaptação da obra O auto da compadecida para a televisão, em um primeiro momento, em
formato de minissérie, exibida na Rede Globo, e que, posteriormente, em 2000,
foi transformada em filme. O
projeto deu certo, pois a idéia de ver, no filme, um resumo do que a TV exibiu
em formato de minissérie não afastou o público. Pelo contrário, no cinema, a
obra repetiu o sucesso.
Linguagens e recursos das artes fílmica e literária
Talvez a definição mais aceita de adaptação seja a de “transcriação”,
termo de Haroldo de Campos que prevê a transferência de um sistema de signos
(literatura) a outro (cinema), mas não de forma extremamente fiel. A criação é
permitida, mas de modo que a base da história literária não seja alterada.
Portanto, desvios mínimos são permitidos, à medida que o roteirista, para fazer
a adaptação do texto original, deve partir da seleção de cenas, o que, resulta
em cortes, principalmente, e na condensação de vários personagens em apenas um.
Ambos os processos são amplamente utilizados, já que, nas adaptações, o que
dita as regras é o tempo, pela necessidade de contar uma obra de duzentas
páginas ou mais em apenas duas horas, duração média dos filmes de longa
metragem. Outros processos que aparecem nas adaptações são os acréscimos e a
ampliação da participação de determinado personagem.
Para transpor para as telas um texto primeiro pensado literariamente, o
cinema empresta recursos literários, o que é possível, pela presença dos
elementos da narrativa também no filme. O filme, assim como o texto escrito,
deve ter um enredo, que envolve personagens, que, por sua vez, movem-se em
determinado ambiente, agindo de forma a inscrever os fatos em determinada
ordem, cronológica ou não. Além disso, o papel do narrador no texto pode ser
relacionado ao posicionamento da câmera, por exemplo, já que os recortes do que
é mostrado na tela determinam se o espectador terá um ângulo amplo ou restrito
de visão. Isso sem falar nos filmes que optam por uma narração explícita, como
é o caso do filme Memórias póstumas,
de André Klotzel. A câmera funciona para aproximar o espectador do personagem,
por exemplo, quando a opção é pelo primeiro ou primeiríssimo plano. Isso
equivale ao narrador detalhista e que enfatiza a emoção suscitada no leitor,
pelas ações dos personagens. Da mesma forma, as câmeras baixa e alta podem
indicar atitudes de enaltecimento e inferiorização, respectivamente, do narrador
frente aos personagens. A cena também é uma unidade do universo literário,
apesar de, hoje, seu conceito ser imediatamente relacionado ao aspecto visual e
aos meios de comunicação que têm a visualidade como elemento principal, como o
cinema e a televisão.
Marinyse Prates de Oliveira, em seu artigo Laços entre a tela e a página, faz referência ao surgimento do videocassete
como um marco do entrelaçamento entre literatura e cinema, já que as
possibilidades oferecidas por esse aparelho, de adiantar e retroceder o filme,
equivalem às possibilidades que o livro oferece ao leitor, de avançar algumas
páginas e, principalmente, de voltar a partes, para tentar compreender melhor
determinada parte da história. Nas palavras da autora: “O surgimento do
videocassete, não há dúvida, possibilitou um aprofundamento dessa relação que
já era naturalmente estreita. Ao facultar ao espectador interferir no processo
de projeção, retrocedendo, adiantando ou interrompendo-o, o vídeo conferiu ao
espectador do filme as facilidades de manuseio próprias do leitor de livros.”
(OLIVEIRA, 2005, p. 2).
E há que se mencionar a aproximação feita por Aguiar e Silva, que define
também o filme como texto, definindo – como um “conjunto permanente de
elementos ordenados, cujas co-presença, interação e função são consideradas por
um codificador e/ou por um decodificador como reguladas por um determinado
sistema sígnico”. (SILVA, 1988, p. 597-598).
Não só a literatura sempre serviu, desde que o cinema foi inventado,
como matéria- prima para os filmes, dos mais diferentes gêneros, como vários
escritores da literatura universal foram contratados como roteiristas. Como
exemplos, podem ser citados os nomes de Scott Fritzgerald, William Faulkner e
Aldous Huxley, entre outros. Além desses, Marinyse Prates lembrou ainda os
nomes de Gore Vidal, James Age e Nathanael West.
Marynise Prates, em seu artigo, já mencionado, cita Paulo Emílio de
Salles Gomes, que vai além do parentesco entre literatura e cinema. Para ele,
“o cinema é tributário de todas as linguagens, artísticas ou não, e mal pode
prescindir desse apoio que eventualmente digere”. (OLIVEIRA, 2005, p. 2). De
todas essas linguagens, o crítico menciona a literatura e o teatro como as
artes que têm mais afinidade com o cinema.
Do texto literário ao filme
Para Jorge Furtado, a principal dificuldade do roteirista é concretizar
sentimentos e sensações, pois, segundo ele, o roteiro de um filme deve ser
visual, já que no cinema não ocorre como na literatura, que, através das
palavras, leva o leitor a imaginar o que está sendo descrito. O filme já é o
resultado de uma leitura. Por isso, deve transformar tudo o que na obra
literária é abstrato em algo visível e concreto. Por esse motivo, a adaptação é
extremamente subjetiva, o que pode ser facilmente percebido depois de um número
de pessoas que foram assistir a uma adaptação qualquer comentarem: “Não gostei
do filme” ou “Não foi o que eu esperava”. Dessa forma, a adaptação será mais
bem aproveitada se o espectador já tiver lido a obra-base, para poder julgar a
transposição do texto à tela, argumentando e, até, comparando sua visão, no
momento da leitura, à visão apresentada no filme. Ítalo Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio,
menciona: “No cinema, a imagem que vemos na tela também passou por um texto
escrito, foi primeiro ‘vista’ mentalmente por um diretor, em seguida
reconstruída em sua corporeidade num set para ser finalmente fixada em
fotogramas de um filme.” (CALVINO, 1993, p. 99)
Quando trata das lacunas do texto literário, que, segundo Jorge Furtado e
outros autores, já aparecem preenchidas, no filme, Umberto Eco diz que não pode
ser esquecido o fato de o produto cinematográfico exigir também a colaboração
do espectador:
Também no filme, às vezes mais do que no romance,
existem os ‘vazios’ das coisas não ditas (ou não mostradas) que o espectador tem de preencher se quiser
dar sentido à história. Aliás, se um
romance pode ter páginas à disposição para tracejar a
psicologia de um personagem, o filme, não
raro, tem de limitar-se a um gesto, a uma fugaz
expressão do rosto, a uma fala de diálogo.
Então
‘o espectador pensa’,
ou melhor, diria, deveria pensar. Como
diz Fumagalli, ‘as técnicas da es-
escrita dramatúrgica ensinam cada vez mais a trabalhar
como se na tela só pudessem aparecer as
pontas dos icebergs’, e freqüentemente ‘vemos um, mas
— se prestarmos atenção — compreen-
demos dez’. (ECO, 2005, p. 98)
Jorge Furtado reforçou essa idéia, quando citou, em uma palestra
intitulada Adaptação literária para
cinema e televisão, em
Passo Fundo (RS), na ocasião da 10ª Jornada Nacional de
Literatura, uma lista imensa de recursos e técnicas que o cinema herdou da
literatura:
De Homero o cinema aprendeu o flash-back e a idéia de
que cronologia é vício. De Petrônio, o
poder dramático da prosódia e a subjetividade do
discurso. De Dante, a vertigem dos aconteci-
entos, a rapidez\ para mudar de assunto. De Boccaccio,
a idéia da fábula como entretenimento.
De Rabelais, os
delírios visuais e a certeza de que a arte é tudo que a natureza não é. De Mon-
taigne, o esforço para registrar a condição humana. De Shakespeare, Cervantes (e também de
Giotto) a corporalidade do personagem e o poder da tragédia. Da comédia de Moliére o cinema
aprende que a história
é uma máquina. Voltaire ensinou a decupagem, a técnica do holofote e o
humor como forma avançada da filosofia. De Goethe o cinema (e também a televisão) aprendem
o prazer do sofrimento alheio. De Stendhal e Balzac
vem o realismo, a narração off e o autor co-
mo personagem. De Flaubert, vem a imagem dramática e o roteiro como tentativa de literatura.
Brecht é o pai do cinema-teatro e da idéia de que
realismo tem hora. (FURTADO, 2005, p. 4)
REFERÊNCIAS
BACK, S. Cinema e
literatura. Disponível em: <http://www.ufmg.br/online/arquivos/000574.shtml>. Acesso em: 23 jul. 2005.
CALVINO,
I. Seis propostas para o próximo milênio.
São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
CARDOSO, L. M. O. de B. Literatura e cinema: simbioses narratológicas.
Disponível em: <http://www.ipv.pt/forumedia/5/17.html>. Acesso em: 23 jul. 2005.
ECO,
U. Seis passeios pelos bosques da ficção.
São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
_____.
A diferença entre livro e filme. Entre
livros, ano 1, n. 7.
FURTADO,
J. A adaptação literária para cinema e
televisão. Disponível em:
<http://www.casacinepoa.com.br/port/conexoes/adaptac.htm>.
Acesso em: 23 jul. 2005.
OLIVEIRA,
M. P. de. Laços entre a tela e a página. Disponível em:
<http://www.joaogilbertonoll.com.br/estudos.html>.
Acesso em: 23 jul. 2005.
SILVA,
V. M. de A. e. Teoria da Literatura.
Coimbra: Almedina, 1988.
--------------------------------------
*Professora
de Imagem e Literatura e Coordenadora do Curso de Mestrado em Teoria Literária.
Professora dos Cursos de Letras, na FACEL e na FAE.