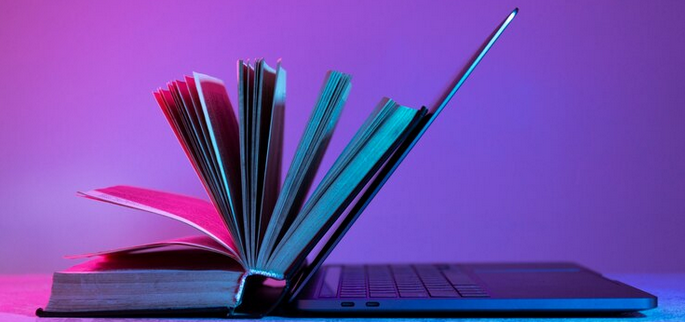Sigrid Renaux
O ensaio “O discurso dialógico de Margaret Atwood em Negociando com os mortos” (RENAUX, 2012,
p. 177-190) apresenta, na terceira parte, as considerações da escritora
canadense sobre a arte de escrever.
Ao direcionar
suas reflexões ao tema da “escrita como arte, e ao escritor como herdeiro e
portador de uma série de pressupostos sociais sobre a arte em geral e sobre a
escrita em particular”, apontando assim para a responsabilidade do escritor,
Atwood afirma, primeiramente, que a arte de escrever se distingue da maioria
das outras pela “sua aparente democracia (...), sua acessibilidade a quase
todas as pessoas como um meio de expressão” (NM, p. 54). Entretanto, essa aparente democracia é em seguida
desconstruida, pois mesmo que “a maioria das pessoas acredita secretamente que
elas próprias guardem um livro dentro de si”,
pois muitos “passaram por uma experiência sobre a qual outros gostariam de
ler”, “isto não é o mesmo que ‘ser escritor’”.
Sua insólita
comparação do ato de escrever com a de um coveiro – “qualquer um pode cavar um
buraco no cemitério, mas nem todo mundo é coveiro” – comparação que ela própria
considera “sinistra”, e que nos remete inconscientemente à cena do coveiro em Hamlet – na realidade é muito mais
pertinente e profunda do que parece à primeira vista: pois
para ser [coveiro] é preciso muito mais energia e persistência. Além
disso, dada a sua natureza, é uma atividade profundamente simbólica. Como coveiro
(...) carrega-se nos ombros o peso das projeções de outras pessoas, dos seus
medos e fantasias, ansiedades e superstições. Representa-se a mortalidade quer
se goste ou não. (NM, p.55)
É este papel simbólico que Atwood transfere em seguida
para “qualquer papel público, inclusive
o de Escritor, com E maiúsculo”, mesmo que o “seu significado – seu conteúdo
emocional e simbólico – vari[e] com o passar do tempo” (NM, p.55), confirmando e recontextualizando assim o teor do ensaio
de Eliot, “Tradição e Talento Individual”:
A tradição (...) envolve, em primeiro lugar, o sentido histórico (...);
e o sentido histórico implica a percepção, não apenas da caducidade do passado,
mas de sua presença; o sentido histórico leva um homem a escrever não somente
com a própria geração a que pertence em seus ossos, mas com um sentimento de
que toda a literatura européia desde Homero e, nela incluída, toda a literatura
de seu próprio país têm uma existência simultânea e constituem uma ordem
simultânea. (...) Nenhum poeta, nenhum artista, tem sua significação completa
sozinho. Seu significado e a apreciação
que dele fazemos constituem a apreciação de sua relação com os poetas e os
artistas mortos. Não se pode estimá-lo em si; é preciso situá-lo, para
contraste e comparação, entre os mortos. (ELIOT, 1989, p. 39) (Minha ênfase).
A questão do título e
subtítulo do livro de Atwood, portanto, remete, por um lado, a esta relação necessária que Eliot estabelece entre
um poeta ou artista com os poetas e artistas que o precederam, situando-o “para
contraste e comparação, entre os mortos” a fim de podermos melhor estimá-lo;
por outro, ela já está prefigurada neste primeiro capítulo, através
da figura simbólica do coveiro, e do sentido que Atwood dá ao título, pois,
como ela explica no capítulo final A
descida: Negociando com os mortos,
O título deste capítulo é “Negociando com os mortos” e a sua hipótese é
que não apenas alguns, mas todos os escritos do gênero narrativo, e talvez até tudo que se escreva, seja no fundo motivado pelo medo e a fascinação diante da
mortalidade – por um desejo de empreender a arriscada viagem para os Infernos e
dali trazer algo ou alguém ao regressar” (NM,
p. 196-7).
Amplia e aprofunda assim esta relação eliotiana, ao lançar a hipótese de
que não apenas nós, leitores, precisamos situar o poeta/artista entre os
poetas/artistas que o precederam mas que os próprios escritores desejam
estabelecer contato com os poetas mortos, a fim de “trazer algo ou alguém ao
regressar”. Estabelece então, numa pergunta retórica, uma premissa de trabalho:
“por que escrever, mais do que qualquer outro meio de expressão ou arte,
estaria tão estreitamente vinculado a nossa própria ansiedade e respeito pela
própria extinção final?”(NM, p. 198)
Como ela mesma responde,
Ir ao país dos mortos e trazer de volta à terra dos vivos alguém que
estava lá – é um desejo humano muito profundo, embora seja também algo
rigorosamente proibido. Mas é possível conceder uma espécie de vida a quem
escreve. Jorge Luis Borges em seus Nove
ensaios dantescos, propõe uma teoria interessante: toda a Divina Comédia (...) foi composta por
Dante para poder entrever a falecida Beatriz e trazê-la de volta à vida em seu
poema. É porque escreve sobre ela, e
somente por isso, que Beatriz pode voltar a existir novamente na mente do escritor e do leitor. (NM, p. 213) (ênfase minha)
Esta concepção borgiana é então retomada e desenvolvida por Atwood, ao
afirmar:
Ninguém torna a voltar para casa novamente,
disse Thomas Wolfe; mas de certo modo
voltamos, quando escrevemos sobre isso. (NM, p. 214). (...)
Todos os
escritores aprendem com os mortos. Enquanto continuamos a escrever, continuamos
a explorar o trabalho dos escritores que nos precederam; ao mesmo tempo nos
sentimos julgados e responsabilizados por eles. (...) Porque os mortos
controlam o passado, controlam a histórias, e também certas verdades (...);
portanto, se formos nos aventurar na narrativa, teremos de lidar, mais cedo ou
mais tarde, com essas camadas anteriores do tempo. Mesmo que o tempo seja o de
ontem apenas, já não é hoje. Não é o agora
em que estamos escrevendo. Todos os escritores têm de passar do agora para o era uma vez; todos devem ir daqui para lá; todos devem descer até o
lugar em que as histórias estão guardadas; todos devem cuidar para não serem
capturados e imobilizados no passado. E todos precisam furtar ou recuperar,
dependendo do ponto de vista. Os mortos podem guardar o tesouro, mas ele será
inútil se não puder ser trazido de volta à terra dos vivos e reingressar no
tempo – o que significa entrar para o dominio do público, o domínio dos
leitores, o domínio da mudança. (NM,
p. 220-221)
Ao confirmar a
obrigatoriedade do escritor de transitar temporal e geograficamente do mundo
dos escritores vivos ao mundo dos escritores mortos, a fim de “furtar ou
recuperar” os tesouros lá escondidos, pois eles só terão valor se puderem ser
trazidos de volta e reingressarem no tempo, isto é, no domínio do público e,
assim, da mudança – esta palavra seminal –, Atwood consegue portanto ir além
das correntes culturais do pós-modernismo e do pós-colonialismo: sua
perspectiva pragmática, abrangente e conciliadora não apenas desconstroi as
“ortodoxias existentes” da crítica acadêmica, do colonialismo e do
eurocentrismo, mas até as da arte de escrever, através das diferentes
perspectivas que estabelece entre essas ortodoxias e seu próprio ponto de
vista.
Ao “propor um
protótipo mais antigo [do que Virgílio] para o aventureiro aos Infernos como
escritor – o já mencionado heroi sumeriano Gilgamesh”(NM, 216) – Atwood está também redimensionando o centro do
“arcabouço cultural europeu” (BONNICI, 2005, p. 26) para incluir o do mundo
oriental, confirmando assim a afirmação de Frye de que “o centro da realidade
está onde a pessoa acontece estar, e sua circunferência é aquela que a
imaginação da pessoa consegue explicar”.
Simultaneamente,
ela está exercendo, em seu discurso dialógico, a proposta de Harris e Soyinka
por um “culturalismo cruzado”, que transcende as atitudes antinômicas de
globalização x identidade nacional ou regional – ao ambos escritores chamarem a
atenção, em sua crítica, a correspondências culturais racionalmente
inexplicáveis e ao insistirem na natureza intuitiva da imaginação e em sua
capacidade de conceber a humanidade em termos heterogêneos, (não apenas num
sentido racial mas com referência a todas as espécies vivas), a fim de, nas
palavras de Harris, “prevenir a morte da imaginação dentro das molduras da
identidade dogmática e da homogeneidade” (JELINEK, 2008, p.89-90).
É este
cruzamento de diálogos e culturas, entre escritores vivos e mortos, que Atwood negocia também com seus leitores,
ao falar, ao longo da obra, “do ofício de escrever”.
Referências:
ATWOOD, Margaret. Negociando
com os mortos: a escritora escreve sobre seus escritos. Trad.
Lia Wyler. Rio de Janeiro: Rocco, 2004.