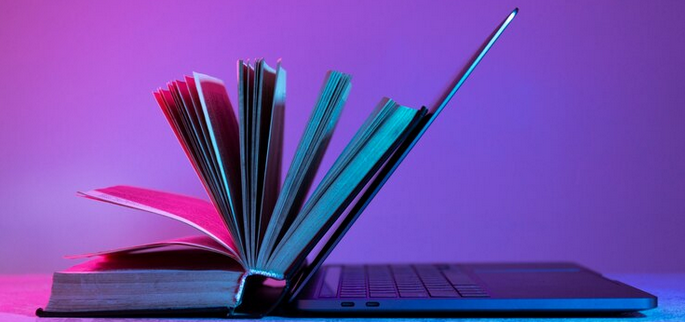Otto Leopoldo Winck*
Na periferia do
capitalismo, ourivesaria e paroxismo
Em 1880 o Brasil era uma monarquia
(a única na América Latina), escravagista (a última nação do continente a
alforriar os escravos), com uma população, basicamente rural, de cerca de dez
milhões de habitantes. O romantismo, dominante até algumas décadas atrás, agonizava,
acossado por uma poesia que se pretendia científica, socialistas e realista.
Uma geração depois, em 1920, o país já contava com uma população de 30 milhões,
era uma república consolidada, não obstante instável. A industrialização, ainda
que incipiente, ao lado de uma nova burguesia, produzia os primeiros
proletários. Na elite dirigente, reinava o positivismo, o qual, de doutrina que
pretendia combater a ignorância e a superstição, transplantado para os
trópicos, assumia curiosos ares de culto religioso. Ao mesmo tempo, os
imigrantes europeus traziam para cá as novas ideias do anarquismo e do
marxismo. Na literatura, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo,
muitas vezes imbricados e sem mais a pujança inicial, já ostentavam um rol considerável
de realizações, enquanto aquilo que viria a ser conhecido como modernismo ainda
não dera o ar da sua graça, como o faria de maneira ruidosa em 1922, na Semana
de Arte Moderna – curiosamente no mesmo ano da fundação do Partido Comunista. A
imigração mudara profundamente o perfil da demografia brasileira, “branqueando
a raça”, enquanto os ex-escravos e seus descendentes, preteridos como
mão-de-obra assalariada, engrossavam os cortiços nos morros e nos subúrbios das
grandes cidades que pontuavam num país de feições ainda agrárias. Com efeito,
não obstante algumas mudanças políticas e econômicas, o Brasil continuava um
país de inserção subalterna no capitalismo global, pagando um pesado óbolo por
sua herança colonial. O Rio de Janeiro exemplificava de maneira sintomática
essas contradições. No começo do século a capital federal, inspirando-se na
reurbanização de Paris, passava por uma profunda reforma, com a abertura de
amplas avenidas, túneis e uma maquiagem no antigo centro. Os ambientes saneados
e urbanizados, nos quais são combatidos os focos de epidemias como a febre
amarela e a varíola, contrastavam com os morros e áreas periféricas, para onde era
impelida a população pobre residente na região central. Com essa situação,
crescia a delinquência, aumentando o número de delitos de toda ordem. Ao mesmo
tempo, nas livrarias e cafés das áreas nobres, agitava-se toda uma fauna de
boêmios e literatos, do sofisticado João do Rio ao marginal Lima Barreto. É a Belle Époque carioca, cenário onde
circulava a alegre intelligentsia
tupiniquim, antes da irrupção, por conta
do modernismo, de uma nova geração de artistas e intelectuais baseados em São
Paulo. Na poesia desse período, dois poetas podem ser convocados para exemplificar
o espírito da época: o parnasiano Olavo Bilac e o “simbolista” Augusto dos
Anjos.
O Príncipe dos
Poetas
Juntamente com Alberto de
Oliveira (1857-1937) e Raimundo Correa (1859-1911), Olavo Brás Martins dos
Guimarães Bilac (1865-1918), cujo nome já é um alexandrino perfeito, forma a
famosa “trindade parnasiana”. Nascido como reação aos excessos da subjetividade
romântica e ao seu famigerado desleixo formal, o parnasianismo chega ao Brasil
por influxo direto de seu similar francês. O vate se transforma em joalheiro, o
vidente em ourives. Em vez da inspiração, o lavor; no lugar do sestro, a
perícia técnica. O modelo ideal são as artes visuais, em especial a escultura. O
culto da forma, não raro confundido com fôrma
(como disse Manuel Bandeira), a arte pela arte, a impassibilidade são erigidas
em virtude, como no ideal clássico, e toda a temática da Antiguidade volta à
tona, com sua carga alienígena de deuses e heróis greco-romanos. Num país de
não-leitores, os poetas parnasianos alcançam invejável glória, sobretudo a
supracitada trindade, da qual destaca-se, em evidente primazia, o primeiro
príncipe dos poetas brasileiros, Olavo Bilac.
Jornalista, polígrafo, inspetor
de ensino, Bilac talvez seja o representante mais típico de nossos triunfantes
literatos da Belle Époque – sem
dúvida o poeta mais popular de sua época. Contrariando o conselho que deu em “A
um poeta”, não fugiu “do estéril turbilhão da rua”, mas antes envolveu-se em
intensa atividade política: defendeu a Abolição e a República, engajou-se na
oposição a Floriano Peixoto, na campanha pelas reformas urbanas, na defesa da instrução primária, e, no fim da
vida, na propaganda pelo serviço militar.
Já no intróito de seu livro de estreia,
Poesias (1988), o poema “Profissão de
fé” é um exemplo do ideário parnasiano, felizmente nem sempre seguido à risca
pelo poeta: “Torce, aprimora, alteia, lima / A frase; e, enfim, / No verso de
ouro engasta a rima, / Como um rubim.” Das três partes constitutivas do livro,
a primeira é a que mais se identifoca com o ideal parnasiano – na escolha dos
temas, na ênfase descritivista, no caprichado refinamento, na chave de ouro dos
sonetos. Sobretudo, é na segunda parte, Via
Láctea, que se revela outro veio do poeta, o que o salva dos excessos da
rigidez da escola. Aí se percebe a influência do lirismo da matriz portuguesa,
sobretudo Bocage, e um sensualismo de inspiração epicurista. Mas é sobretudo no
livro Tarde, publicado postumamente
em 1919, que esse lirismo logra ás vezes libertar-se da camisa de força
parnasiana e, envolto num doce clima crepuscular, atingir alguns altos vôos
poéticos.
Devido a tendência parricida das
novas gerações, Olavo Bilac foi um dos alvos preferenciais dos modernistas, o
que turvou durante muito tempo sua correta apreciação pela crítica. Todavia,
nos últimos decênios, sua obra vem sendo aos poucos revalorizada, não apenas
seus poemas “oficiais” como também sua atividade na imprensa, sobretudo as
crônicas e os poemas de circunstância.
Poesia agônica
Se Olavo Bilac, salvo em alguns
momentos, é um representante típico do parnasianismo, o mesmo não se pode falar
de Augusto dos Anjos (1884-1914) com respeito ao simbolismo. É claro que não é
apenas sob o ponto de vista cronológico que o poeta paraibano é aproximado ao
simbolismo, pois este não é tanto posterior ao parnasianismo como muitas vezes
concomitante a ele. Entre Augusto dos Anjos e a escola do Símbolo, não apenas alguns
temas mas a sensibilidade os aproxima. No entanto, se o simbolismo, ao
contrário da visualidade do parnasianismo, preferiu o encantamento da música,
esta soa de modo estridente e dissonante em Augusto dos Anjos. Ao contrário da
surdina verlaineana de um Alphonsus de Guimaraens, os acordes do autor de Eu, lançado em 1912, causam estranheza por sua aguda dissonância. Todavia, junto ao poeta
de Mariana e Cruz e Souza, uma vocação para a marginalidade e para a melancolia
os une. Ademais, ao contrário dos aplausos da trindade parnasiana, esta tríade
“simbolista” não conheceu a fama, não gozou de prestígio literário. Contudo,
ainda que membro inconteste desse trio, só podemos denominar Augusto dos Anjos
como simbolista com aspas de protesto. Ao contrário dos outros, nele não
encontramos a fuga para a Torre de Marfim do Parnaso ou do Símbolo, mas sim um
amargo mergulho na sordidez da realidade, com fortes cores escatológicas. Em
vez do evanescente, a dura materialidade expressa não raro com “antipoéticos” termos
científicos. Em vez do sonho, o pesadelo do prosaico. Em vista dessas
particularidades, alguns críticos denominam Augusto dos Anjos como
pós-simbolista, outros, como ferreira Gullar, como pré-moderno, embora esses
termos nos pareçam demasiado imprecisos. Há ainda quem vislumbre nele traços
expressionistas, aproximando-o ao poeta alemão Trakl. De toda forma, Augusto
dos Anjos pertence a esta geração na qual o simbolismo, em todas as suas
vertentes, preparou o terreno para a irrupção da poesia moderna.
Ao contrário de Bilac, célebre em
vida e atacado depois de morto, Augusto dos Anjos, que em vida não encontrou
mais que ostracismo, conquistou uma grande popularidade póstuma. Seu livro, o
único publicado em vida, vem recebendo seguidas reedições, superando em muito o
número de leitores do colega parnasiano.
Referências
bibliográficas
ANJOS,
Augusto dos. Eu e outras poesias. São
Paulo: Martins Fontes, 1994.
BILAC,
Olavo. Poesias: Panóplias, Via-Láctea,
Sarças de fogo, Alma inquieta, As viagens, o caçador de esmeraldas, tarde. Belo
Horizonte: Itatiaia, 1985.
BOSI,
Alfredo. História concisa da literatura
brasileira. 41 ed. São Paulo: Cultrix, 1998.
BUENO,
Alexei. Uma história da poesia brasileira.
Rio de janeiro: G. Ermakoff, 2007.
CANDIDO, Antônio. Formação da literatura
brasileira:
momentos decisivos. 5. ed. São Paulo: USP/Itatiaia, 1975.
GIL,
Fernando Cerisara. Do encantamento à
apostasia: a poesia brasileira de 1880-1919. Curitina: Editora UFPR, 2006.
HELENA,
Lúcia. A cosmo-gonia de Augusto dos
Anjos. Rio de janeiro: Tempo brasileiro, 1977.
SIMÕES
JUNIOR, Álvaro santos. A sátira do
parnaso: estudo da poesia satírica de Olavo Bilac de 1984 a 1904. São
Paulo: Editora UNESP, 2007.
*Professor do Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade