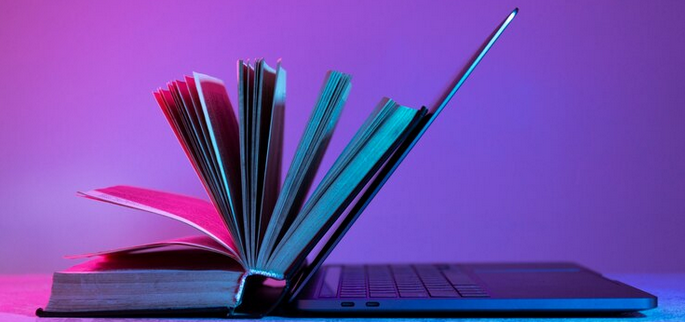Sigrid Renaux*
Dentre
os ensaios que constam em A consciência
das palavras, de Elias Canetti (1905-1994), prêmio Nobel de Literatura de
1981, destaca-se “Acessos de palavras” por apresentar, de maneira sucinta, um
assunto que talvez as pessoas que emigram para outro país não estejam
plenamente conscientes, em sua ânsia de sobreviver a qualquer custo. São banidos,
prisioneiros ou soldados, como pondera Canetti, aos quais acrescento os inúmeros
refugiados que hoje em dia partem em definitivo para o exterior, sem
perspectivas de voltar ao país natal. Neste ensaio, apresentado como “palestra
proferida na Academia de Belas-Artes da Baviera” em 1969, o próprio Canetti
esclarece no Preâmbulo à obra que “quis descrever o que acontece com uma língua
decidida a não capitular: seu verdadeiro objeto é, portanto, a língua, e não
aquele que fala” (CANETTI, 1990, p. 10).
Partindo
da perspectiva canettiana – verificar o que acontece com a língua materna no
momento em que ela é transposta para um novo ambiente – procuro, ao examinar a
sequência de constatações e argumentos que o escritor apresenta, concretizar
esta verificação com ponderações sobre exemplos que me ocorrem de escritores ou
simplesmente de pessoas quando estão no exterior por mais tempo, em qualquer
situação e em contato com uma língua estrangeira dominante. Como Canetti
esclarece quase ao final do ensaio, “não se trata aqui da aprendizagem de uma
língua estrangeira na terra natal, numa sala de aula com um professor (...);
trata-se, ao contrário, de estar entregue à língua estrangeira no domínio
desta, onde todos estão do lado dela e, juntos, com aparente razão, golpeiam –
despreocupada, decidida, ininterruptamente – a pessoa com suas palavras” (CANETTI,
1990, p.172).
Para Canetti – falando de sua própria experiência, pois
continuou a escrever em alemão, que aprendera aos oito anos, mesmo morando principalmente
em Londres – “a primeira coisa que ocorreu [à lingua materna] foi ter ela
passado a ser tratada com outra espécie de curiosidade”
(p. 169). Não apenas nas “confrontações literárias” com a linguagem corrente,
mas principalmente nas particularidades da língua alemã, pois nela agora “tudo chamava a atenção; antes, eram
apenas umas poucas coisas” (p. 170). Ou seja, passamos a valorizar mais
aspectos de nossa própria língua, ao compará-la com a língua dominante,
percebendo nela a riqueza (ou falta) de determinados termos ou expressões
idiomáticas em comparação com a dominante. Basta lembrar o tão citado exemplo
da palavra “saudade”, inexistente em outras línguas, ou a “Canção do Exílio’,
de Gonçalves Dias, que revela, já na primeira estrofe, a percepção do poeta de que
“as aves que aqui gorgeiam/não gorgeiam como lá” ampliando assim a riqueza
sonora das palavras para incluir a sonoridade dos gorgeios dos pássaros.
Outro
aspecto salientado por Canetti é a percepção de “uma redução da auto-satisfação”, ou seja, o escritor que permanecesse com sua língua materna –
em contraposição aos que adotaram a língua do novo país para escrever – e,
portanto, sem “perspectiva de alcançar uma meta externa” (p. 170), passaria por
“tolo” entre seus “companheiros de destino” e, pior ainda, entre “a gente do
país” em meio à qual tinha de viver “era já como se não fosse ninguém”(p. 170).
Em outras palavras: o escritor seria desdenhado e ignorado duplamente, por não
haver se adaptado à nova língua como instrumento do fazer literário. Levando-se
em consideração que Canetti continuou escrevendo em alemão, língua de alcance tão
amplo como o inglês ou o francês na época, qualquer generalização torna-se
problemática. Basta lembrar o exemplo de Joseph Conrad, polonês que aprendeu
inglês apenas aos vinte e um anos ao entrar na marinha britânica, mas se tornou
um dos grandes escritores britânicos dos séculos XIX e XX. O fato de que a
língua polonesa não lhe oferecia, como o alemão, a oportunidade de “alcançar
uma meta externa”, certamente influenciou em sua decisão de escrever em inglês.
Continuando
sua argumentação, Canetti afirma que permanecer escrevendo em sua língua
materna mesmo morando no exterior, e, portanto, sem leitores, “proporciona um
singular sentimento de liberdade”, pois
“tem-se uma língua secreta só para si, língua que não serve mais a nenhum objetivo
externo, de que se faz uso quase que solitariamente”, como uma crença à qual os
seres humanos se apegam quando todos ao ser redor a desaprovam (p.170). Para
Canetti, porém, este é apenas um aspecto superficial da questão, pois o que
realmente vale é o fato de que “uma pessoa com interesses literários tende a
assumir que são as obras dos poetas que representam a língua” (p. 170).
Entretanto, mesmo que essas obras constituam nosso alimento, Canetti alega que
entre as
descobertas que se fazem vivendo no domínio de uma outra língua, uma possui um
caráter todo especial: a de que são as próprias palavras que não nos abandonam, as palavras isoladas em si, para além de todo contexto espiritual
mais amplo. Experimenta-se o poder e a
energia singular das palavras, e do modo mais forte, quando se é com
frequência obrigado a substituí-las por outras. (p.170-71)
Como Canetti continua, o dicionário do estudante que
se esforça por aprender outra língua “é subitamente virado do avesso”, pois “tudo
quer ser designado como a era antes, e propriamente”. Consequentemente, “a
segunda língua, que agora se ouve todo o tempo, torna-se óbvia e banal; a primeira, que se defende, ressurge sob uma
luz particular” (p. 171). É neste ponto que o ensaio de Canetti remete ao
título, “Acessos de palavras”, após
haver recordado como, estando na Inglaterra durante a segunda guerra mundial, “enchia
páginas e páginas com palavras alemãs (...). De repente, como que tomado por um
furor e fulminante como um raio, cobria algumas páginas de palavras” (p. 171).
Pois, ao perceber que esses “acessos de palavras eram patológicos” Canetti nos
revela o que está por trás desse título: “acesso”
tanto como movimento psicológico passageiro, quanto como fenômeno patológico
que a espaços cessa e recrudesce. Ou seja, como todo grande escritor, Canetti
experimentava “o poder e a energia singular das palavras”, das palavras como
paradigmas, no eixo da seleção, e não encaixadas em frases, como sintagmas, no
eixo da combinação. Como ele conclui,
desde essa época, não resta para mim a menor dúvida de que as palavras estão carregadas de uma espécie
particular de paixão. Elas são, na verdade, como os homens; não se deixam negligenciar nem esquecer. Como quer que
sejam guardadas, elas conservam sua vida,
e surgem repentinamente, exigindo seus direitos. (p. 171)
Mesmo
que Canetti diagnostique a causa desses “acessos de palavras” como sendo “sinal
de que a pressão sobre a língua [alemã] tornou-se demasiadamente forte” e que o
inglês “se impõe com frequência cada vez maior sobre a pessoa” (p.172), nesses
“movimentos e contramovimentos”, as palavras da língua antiga “embotam-se na
luta com suas rivais”, enquanto “outras alçam-se acima de qualquer contexto e
resplandecem em sua intraduzibilidade”
(p. 172).
Esta
luta de paradigmas apresentada por Canetti, parece-me, é tão relevante para
nossa conscientização do que ocorre quando somos “dominados” pela língua
estrangeira mesmo sabendo que retornaremos à terra natal, quanto para os
citados pelo ensaísta no início do texto, sem perspectivas de retornar a seu
país. É o modo pelo qual as palavras de nossa língua materna permanecem
intactas em nossa memória, resplandecentes em sua “intraduzibilidade”, enquanto
outras perdem o lustro, cedendo espaço para novos paradigmas estrangeiros.
Para finalizar, tentando justificar esses “acessos de
palavras”, esses “fatos linguísticos privados” (p. 172) que está apresentando à
plateia, Canetti pondera que, se por um lado, numa época em que está em jogo a
própria humanidade, em que os acontecimentos se multiplicam incessantemente,
“seria de esperar de um ser humano, que apesar de tudo se atreve a pensar, algo
bem diferente de um relato sobre o agon de palavras que se sucedem
independentemente de seu sentido” (p172-3). Ou seja, Canetti está ciente de que
estes “acessos de palavras” não são o que sua plateia esperava ouvir. Por outro
lado, considera que o “ser humano hoje, em sua fascinação pelo coletivo, cada
vez mais entregue à própria sorte, busca uma esfera privada que não lhe seja indigna, que se diferencie
nitidamente do coletivo, mas na qual
este se espelhe por completo e com maior precisão” (p.173). Esta “tradução” de
uma esfera coletiva para a privada, “tão interminável quanto necessária” é,
para Canetti, a língua alemã, na qual ele continua, como escritor, “a caminhar
com conscienciosidade e responsabilidade”. Em outras palavras, se todo ser
humano está à procura de uma esfera privada na qual sua vida coletiva também se
espelhe, esta tradução atinge a todos nós¸ assim como atingiu, muito mais profundamente,
o escritor, como artífice da palavra.
Referências:
CANETTI, E. A consciência das palavras. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
Referências:
CANETTI, E. A consciência das palavras. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
*Professora do Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade.