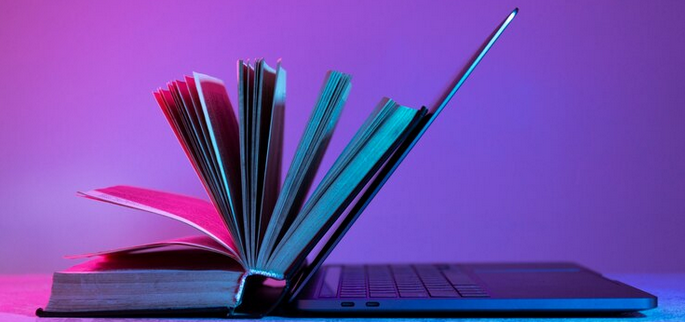CIÊNCIAS HUMANAS: SERÁ O FIM?
Profa. Dra. Greicy Pinto Bellin
UNIANDRADE
Em setembro de 2019, realizou-se, na
UNIANDRADE, o XI Seminário de Pesquisa – III Seminário de Dissertações em
Andamento – Semana de Iniciação Científica de Letras, em que tivemos a honra de
assistir a um minicurso ministrado por Hans Ulrich Gumbrecht, professor emérito
de Stanford University, sobre os leitores não-profissionais de literatura e
seus desafios. Chamou-me a atenção a última frase proferida pelo professor ao
cabo de 90 minutos de fala, não exatamente pelo seu conteúdo mas pela
serenidade com a qual foi dita: Eu não acredito em um futuro para a teoria
literária.
Tal frase poderia soar apocalíptica
e desesperadora para uma professora em início de carreira, tendo em vista todos
os esforços despendidos na realização de cursos de graduação, mestrado,
doutorado, um estágio pós-doutoral, um pós-doutorado, e várias publicações de
livros e artigos em periódicos nacionais e internacionais. Eu já conhecia,
entretanto, a reflexão desenvolvida por Gumbrecht a respeito do futuro da
teoria literária e do fim das humanidades, e já havia, inclusive, trabalhado
com este tema em uma de minhas aulas no início do primeiro semestre de 2019.
Eis que, após a realização do seminário, Sepp, como é comumente chamado pelos
colegas mais próximos, tem publicado no jornal suíço Neuer Zürcher Zeitung, no dia 29 de outubro de 2019, um instigante
texto, intitulado “Mehr Geist weniger Wissenschaft”, no qual aponta para vários
problemas que me fizeram voltar a pensar nesta questão, e que motivaram a
escrita deste artigo no intuito de sistematizar uma reflexão que, acredito,
deveria ocupar as mentes de todos aqueles que se dedicam às ciências humanas.
Vamos a eles.
O primeiro problema apontado por
Sepp Gumbrecht diz respeito à enorme burocracia envolvendo a publicação de
pesquisas produzidas na área de humanas, bem como o fato de que tais pesquisas,
materializadas na forma de artigos publicados em periódicos, acabam não tendo
um público leitor expressivo. O pensador cita o caso de um aluno de doutorado
que teve seu trabalho sobre o pensamento político do Renascimento reconhecido
por um especialista na área, o qual recomendou a publicação da pesquisa em um
periódico de grande prestígio. O periódico, por sua vez, acabou por recusar o
trabalho após um longo e controverso processo editorial, alegando que ele não
se encaixava em seu horizonte temático. Tem-se, portanto, um problema na
mensuração da qualidade da produção científica, o qual pode ser traduzido no
seguinte questionamento: como pode uma pesquisa reconhecida por um grande especialista,
o que asseguraria, pelo menos em tese, sua inquestionável qualidade, ser
recusada por um periódico acadêmico pela simples falta de adequação ao tema e
ao escopo deste mesmo periódico? A questão da adequação, a meu ver, remete à
questão com a qual abri este parágrafo, e que será, em um futuro próximo, uma
das responsáveis pelo fim das humanidades: a burocracia. Sobre este aspecto,
recordei-me de outro texto de Sepp Gumbrecht, “Uma universidad futura sin
humanidades”, publicado em um periódico uruguaio no ano de 2014. Neste texto, o
pensador usa a expressão “to think outside the box” para refletir sobre a
missão das humanidades, propondo que elas devem se especializar em “pensamento
com risco” (“riskful thinking”) a fim de garantir sua sobrevivência. Pode-se
definir como pensamento com risco todo e qualquer pensamento que ofereça mais
problemas do que soluções, isto é, que complique o mundo ao invés de
descomplicá-lo. Seguindo este raciocínio, as humanas seriam as grandes
complicadoras do mundo, pois, além de não oferecerem soluções palpáveis e
concretas para os dilemas da sociedade, ainda ousam criar mais problemas, o que
inviabiliza a solução dos já existentes. Este é um ponto. O que quero mostrar,
contudo, é a relação entre o cultivo do pensamento com risco e a burocracia,
duas instâncias absolutamente incompatíveis, tendo em vista que a primeira dá
ensejo ao surgimento de pensamentos complexos, ao passo que a segunda, com a
sua rigidez, funcionaria como entrave para o desenvolvimento de tais pensamentos.
Trocando em miúdos, as humanidades não comportariam, pelo menos em tese, a
coexistência do pensamento com risco e da burocracia expressa em várias
instâncias das humanidades. Sobre este aspecto, acredito que a definição de
novos critérios para nortear a produção científica dos profissionais de humanas
seja algo urgente e, até mesmo, incontornável não apenas no sentido de
minimizar a burocracia em si, algo já muito difícil de conseguir, mas de
encontrar critérios que embasem uma identidade própria para um profissional que
tende, muitas vezes, a não saber o seu lugar no mundo e a não ter certeza de
sua verdadeira missão.
A
burocracia nas humanidades assume uma dimensão muito mais perigosa no que diz
respeito a outra questão: a subserviência ideológica e político-partidária. Tal
subserviência se transformou em uma característica quase insuperável da
academia brasileira, que elegeu como critério onipresente de avaliação o
pertencimento a determinados partidos e/ou afiliações políticas, como se estas
afiliações, por si mesmas, fossem capazes de definir a qualidade de uma
pesquisa científica. Neste sentido gostaria de retomar Gumbrecht mais uma vez.
No já citado artigo “Uma universidad do futuro sin humanas”, o pensador
questiona a politização dos pesquisadores de humanas fazendo a seguinte
pergunta, a qual me parece muito pertinente: “Se querem ser tão políticos,
porque escolheram ser humanistas ao invés de serem políticos?” (GUMBRECHT,
2014, p. 126, tradução minha). Trocando mais uma vez em miúdos, em asserção que
configuraria uma verdadeira heresia para os que acreditam ferrenhamente na
associação que Gumbrecht (e eu mesma) estamos questionando, política (pelo
menos em seu sentido partidário) e literatura pertenceriam a esferas bastante
distintas, de maneira que a missão dos humanistas deveria ser separada das
missões políticas que burocratizam o pensamento com risco, transformando-o em
algo que estaria a serviço de um partido e/ou de uma ideologia. Pensamento com
risco, salvo lego engano, implica liberdade, algo que não poderia ser
conquistado quando se defende uma associação que desveste a literatura de seu
verdadeiro potencial, que é a fruição estética, e a transforma em panfleto e/ou
documentário enfadonho a serviço da manutenção do pensamento de determinados
grupos legitimados por relações de poder. Gumbrecht chama isso de “correção
política”, considerando que a permanência desta correção seria determinante
para o fim das humanidades em um futuro próximo.
Tornamo-nos
burocratas a partir do momento em que optamos pela sobrevivência a qualquer
custo em detrimento do desenvolvimento de nossa intelectualidade, outro
problema apontado por Gumbrecht em seu artigo. Isso se torna especialmente
complicado na área de humanas, pois nossas pesquisas, diferentemente das
pesquisas desenvolvidas em laboratórios, não levam a resultados concretos com
influência direta na vida das pessoas. O resultado de nosso trabalho é algo
extremamente abstrato e difícil de mensurar, o que se faz sentir quando nos
deparamos com os quesitos “metodologia” e “resultados” ao preencher um
formulário visando solicitação de recursos financeiros para o desenvolvimento
de uma nova pesquisa, por exemplo. Como pensar em metodologia quando nosso
trabalho envolve análise de textos e de material bibliográfico relacionado a
estes textos, apenas? Como pensar em um resultado para algo que muitas vezes é
tão amplo que pode não ter um fim imediato, o que se faz sentir quando
encerramos um artigo com a expressão “considerações finais” ao invés de
“conclusão”? Muitos profissionais de humanas não estão conscientes destas
questões devido a uma percepção deslumbrada acerca de seu trabalho, percepção
esta que os impede de ter o distanciamento crítico necessário para avaliar o
alcance deste mesmo trabalho fora de um circuito acadêmico muitas vezes redutor
e justificado pela bela expressão “torre de marfim”. O fato é que muitos
humanistas se comprazem em pertencer a esta torre por acreditar que ela os
torna exclusivos e especiais, quando o que se observa é uma alienação agravada
pelo deslumbramento e pela correção política daqueles que não pertencem à torre
mas militam nas barricadas da teoria.
Mas
o pior problema reside em um problema de difícil reconhecimento pela maioria dos
acadêmicos e se manifesta na ausência de leituras aprofundadas dos clássicos
que formaram a literatura ocidental, bem como na má vontade em relação à
leitura de obras que não apresentam um viés político determinado, o que nos
leva novamente ao problema da correção política. É como se eu me recusasse a
ler Vidas secas porque Graciliano
Ramos militava no Partido Comunista, ou a ler Machado de Assis por conta de seu
propalado (e já questionado e superado) absenteísmo em relação a questões
políticas, ou a ler Érico Veríssimo por sua postura anticomunista, veiculada,
por exemplo, em O tempo e o vento, grande épico da formação do Rio Grande do Sul, um dos
maiores romances de toda a literatura brasileira. A meu ver nada substitui, em
primeiro lugar, a análise do texto literário, bem como a necessidade de ter
este texto como ponto de partida para toda e qualquer reflexão sobre a
literatura, independente da posição política que se sustenta em um dado
momento. O problema da falta de leitura aprofundada de textos, ao fim e ao
cabo, diz respeito à função exercida pelos profissionais de humanas em uma
sociedade. Não há sentido em continuar usando o texto literário para sustentar
correções políticas e visões deslumbradas acerca da sociedade, mais
especificamente a sociedade brasileira, que passa por tantos problemas no
momento. O aluno que souber ler de forma eficaz não se deixará enganar por fake news e notícias falaciosas de
jornais e redes tendenciosas de televisão; ele (a) saberá interpretar o mundo
não como os outros querem que seja interpretado, mas a partir de seu próprio
ponto de vista. Por isso o combate à correção política é fundamental, pois ela
nos cega e nos transforma em massa de manobra em um sistema perverso de
equívocos que, por ser reforçado geração a geração, acaba não perdendo a força,
impedindo a transformação.
Ao
contrário de Sepp Gumbrecht, considero-me otimista em relação ao futuro das
humanidades com a seguinte condição: que nos transformemos e transformemos
nossos alunos em minuciosos leitores de textos, principalmente o texto literário,
sempre procurando mostrar o prazer deste texto, que reside, em grande parte, em
seus elementos materiais, capazes de provocar sensações diversas e consolidar
não apenas o prazer da leitura, mas um verdadeiro direito a literatura, o
direito ao texto, à identificação de todas as suas nuances sem a obrigação de
ceder à correção política, e sem um compromisso rígido com as ideias preconcebidas
em relação à leitura. Não chegaremos ao fim se exercermos este direito.
REFERÊNCIAS
GUMBRECHT,
Hans Ulrich. Una universidad do futuro sin humaninades. In Mediaciones
de la Comunicación, Uruguai, v. 9, n. 9, p. 117-141, 2014. Disponível em: https://revistas.ort.edu.uy/inmediaciones-de-la-comunicacion/article/view/2604/2582
_______.Mehr
Geist, weniger Wissenschaft. Publicado originalmente no jornal Neue
Zürcher Zeitung, em 29 de outubro de 2019, p. 39.