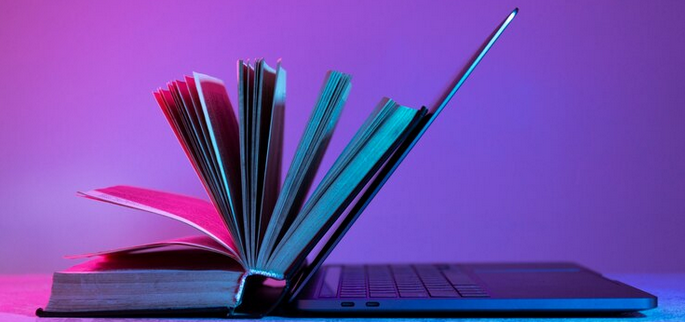Prof.ª. Dra. Verônica Daniel Kobs*
O primeiro texto a ser
analisado é o livro S., de J. J.
Abrams e Doug Dorst. Considerando apenas capas e contracapas, a duplicidade se
faz complexa para o leitor: a caixa de S.
traz um selo, que serve de lacre e que, quando rompido, dá acesso ao volume de
Straka. Esse jogo entre ficção e realidade (na qual Straka é autor, mas ao
mesmo tempo personagem) é próprio da metalinguagem e também será, nesta
análise, um elemento-chave para o jogo estabelecido com o leitor e para a
multiplicidade, temas que serão discutidos posteriormente.
 |
| Figura 1: Livro S., de J. J. Abrams e Doug Dorst: a caixa preta contém o exemplar de O navio de Teseu, de V. M. Straka (ABRAMS; DORST, 2013). |
Em quase todas as
páginas, a história divide espaço com anotações de duas pessoas, Eric e Jen.
Ele estuda a obra de Straka desde os 15 anos e passou a investigar a identidade
do autor com a ajuda de Jen. Os dois alunos trocam o livro constantemente e se comunicam
pelas notas que fazem à margem, à caneta. Quanto à estrutura do livro, tomemos
como base o conceito de transtextualidade, de Gerard Genette, que abrange o
paratexto: “[...] título,
subtítulo, intertítulos, prefácios, posfácios, advertências, prólogos, etc.;
notas marginais, de rodapé, de fim de texto; epígrafes; ilustrações; errata,
orelha, capa, e tantos outros tipos de sinais acessórios” (GENETTE, 2005, p.
9), além dos elementos já citados anteriormente, três assumem grade importância
na história: as notas de rodapé e o prefácio, ambos assinados por
Félix/Filomela, e as anotações de Jen e Eric, escritas à margem das páginas.
Aliás, o livro traz 24 anexos, todos de caráter extraliterário e cada um em uma
página adequada, já que a maioria deles é resultado de um comentário escrito
por Eric ou Jen, quando há necessidade de comprovar ou mostrar algo.
Evidentemente, os anexos também introduzem outros textos e outras artes ou
mídias na narrativa, o que corresponde aos conceitos de intertextualidade (a exemplo
de uma carta ou de um telegrama), interartes (como, por exemplo, quando o
leitor encontra uma foto) e intermidialidade (cujo exemplo pode ser o artigo de
jornal).
No aspecto estrutural, essa multiplicidade corresponde ao que Linda
Hutcheon caracteriza como “that complex Chinese-box mise en abyme structure typical of so much metafiction” (HUTCHEON,
2014, p. 105, grifo no original). Wallace Martin corrobora essa afirmação, pois conceitua a
metaficção como “embedded narration”
(MARTIN, 1991, p. 135). Para demonstrar a estrutura múltipla e encadeada de S.
e também para aproximá-la das considerações de Hutcheon e Martin, observem-se
as figuras a seguir:
 |
| Figura 2: Caixa chinesa. Imagem disponível em: <https://niagaraatlarge.com> |
Ambas as imagens enfatizam o caráter
múltiplo, no sentido literal do termo. Entretanto, o significado de usar essa
estrutura, em um texto literário, hoje, vai muito além do nível quantitativo: “Metaficcional deconstruction [...] has also offered
extremely accurate models for understanding the contemporary experience of the
world as a construction, an artifice, a web of interdependent semiotic systems”
(WAUGH, 1993, p. 9). Portanto, o esquema narrativo de S., plural e intricado, serve de
metáfora para o mundo e para a vida, correspondendo perfeitamente à concepção
de Italo Calvino (1998), no que diz respeito à multiplicidade.
O segundo exemplo analisado aqui
é o filme Homens, mulheres
& filhos, de
Jason Reitman, que usou como base o romance de mesmo nome, de Chad Kultgen.
A alternância, associada à narrativa rápida e aberta, relaciona-se, tanto no
livro como no filme, ao dialogismo, à intertextualidade e ao aspecto
multimidiático. O primeiro item pode ser exemplificado com os nomes de
programas de TV (Two and a half men e
American Idol, entre outros), a
filosofia de Noam Chomsky e o jogo preferido de Tim (World of Warcraft). Como intertexto, a obra do astrônomo Carl Sagan
(Pálido ponto azul) tem importância
decisiva, principalmente no filme. Enquanto, no romance, trechos desse livro
são frequentes na história de Tim Mooney e na epígrafe, no filme a
interferência deles é maior. Outro exemplo de intertextualidade, mas agora
vinculado às diversas mídias, é a comunicação dos personagens por meio de
aplicativos de mensagens. Para isso, o diretor decidiu variar o layout das mensagens, a fim de enfatizar
a verossimilhança. Gareth Smith, designer
chefe do filme, explicou essa escolha da equipe de produção: “[...] cada app de
mensagem de texto tem um visual. Então, queríamos refletir isso na tela [...]”
(HOMENS, 2014).
Devido ao fato de o
enredo ser atual e representar o cotidiano (de casais, famílias, adolescentes
em casa e na escola), e considerando o predomínio da tecnologia hoje, livro e
filme apresentam situações em que a convivência “física” sofre interferência de
mídias diversas, que remodelam as relações interpessoais, fragmentando-as,
anulando-as ou estabelecendo contatos paralelos e virtuais. Tal variedade
justifica uma afirmação de Italo Calvino, que se referiu ao século XXI como uma
“época em que outros media triunfam, dotados de uma velocidade espantosa
e de um raio de ação extremamente extenso, arriscando reduzir toda a
comunicação a uma crosta uniforme e homogênea” (CALVINO, 1998, p. 58, grifo no
original).
Segundo o designer do filme, desde o início o
projeto do diretor foi refletir, na tela, o modo como as pessoas utilizam o
computador e o celular hoje em dia. Isso resultou em uma nova “geografia da
tela”, transformando-a “em uma espécie de área de trabalho” (HOMENS, 2014).
Assim, os elementos tradicionais da cena, no cinema, tornam-se acessórios. Nos
exemplos abaixo, as imagens da tela do computador interferem de modo decisivo
no processo de filmagem, exigindo que o set
fosse disposto de modo distinto. Dessa forma, posteriormente, a cena teria
um lugar adequado para receber a sobreposição da imagem da tela do computador. Utilizando
o mesmo recurso técnico, também a tela do celular ganha destaque no filme, de
modo que o espectador possa visualizar em primeiro plano uma tela específica ou
os textos das telas de vários aparelhos, simultaneamente.
Figura 4: Cenas em que o diretor utiliza as telas dos computadores como imagens sobrepostas (HOMENS, 2014)
Figura
5: Cenas com sobreposições da telas de um celular e dos aparelhos de várias
pessoas (HOMENS, 2014)
Na cena que mostra os vários aparelhos (acima, à
direita), uma interface foi criada para cada personagem e para cada figurante:
“Tivemos que criar a parte gráfica para cerca de 45 pessoas” (HOMENS, 2014). Esse
exemplo demonstra que a intermidialidade sugeriu novas possibilidades à
linguagem cinematográfica. Conforme Denise Guimarães: “[…] em grande parte da
arte contemporânea, os recursos tecnológicos propiciam uma investigação
criativa, uma vez que libertam os artistas do atrelamento a modelos e conceitos
preexistentes. […] tal liberdade, inclusive, pode viabilizar interessantes
trocas sígnicas entre arte e tecnologia.
(GUIMARÃES, 2007, p. 39)
REFERÊNCIAS
ABRAMS,
J. J.; DORST, D. S. Rio de Janeiro:
Intrínseca; Santa Mônica (Califórnia): Bad Robot; New York: Melcher Media,
2013.
CALVINO, I. Seis propostas para
o próximo milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
GENETTE, G. Palimpsestos. A literatura de segunda mão. Belo Horizonte: UFMG, 2005.
GUIMARÃES, D. A. D. Comunicação tecnoestética nas mídias audiovisuais. Porto Alegre: Sulina, 2007.
HOMENS, mulheres & filhos. Direção de Jason Reitman. EUA: Paramount Pictures e Right of Way Films; Paramount Pictures, 2014. 1 DVD (119 min); son.
HUTCHEON, L. Narcissistic narrative: The metafictional paradox. Canadá: Wilfried Laurier University, 2014.
KULTGEN, C. Homens, mulheres & filhos. Rio de Janeiro: Record, 2014.MARTIN, W. Recent theories of narrative. Ithaca: Cornel University, 1991.
WAUGH, P. Metafictional: The theory and practice of self-conscious fiction. New York: Routledge, 1993.
GENETTE, G. Palimpsestos. A literatura de segunda mão. Belo Horizonte: UFMG, 2005.
GUIMARÃES, D. A. D. Comunicação tecnoestética nas mídias audiovisuais. Porto Alegre: Sulina, 2007.
HOMENS, mulheres & filhos. Direção de Jason Reitman. EUA: Paramount Pictures e Right of Way Films; Paramount Pictures, 2014. 1 DVD (119 min); son.
HUTCHEON, L. Narcissistic narrative: The metafictional paradox. Canadá: Wilfried Laurier University, 2014.
KULTGEN, C. Homens, mulheres & filhos. Rio de Janeiro: Record, 2014.MARTIN, W. Recent theories of narrative. Ithaca: Cornel University, 1991.
WAUGH, P. Metafictional: The theory and practice of self-conscious fiction. New York: Routledge, 1993.
--------------------------------------
* Professora do Mestrado em Teoria Literária da
UNIANDRADE. Professora do Curso de Graduação de Letras da FAE. E-mail: veronica.kobs@fae.edu Este artigo é vinculado ao projeto de Pós-Doutorado em
Estudos Literários, atualmente em desenvolvimento na UFPR, sob a supervisão da
Profa. Dra. Patrícia Cardoso.