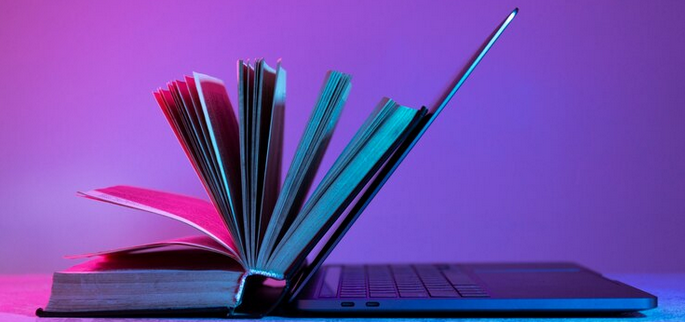Edson Ribeiro*
1995.
O ano em que o brasileiro começou a sentir um gosto novo, o do consumo. E o
otimismo em relação a isso estava apenas começando. Logo viriam as importações,
a disponibilidade de produtos que, agora bem feitos, o povo até então achava
que eram bons.
1995
também começou a trazer uma atenção para novos ritmos musicais. O povo de fora
do Rio de Janeiro percebeu que existia o funk, havia uma incipiente estética da
favela começando a aparecer. E uma invasão de pagode e axé de qualidade
duvidosa.
Muitos
discursos. O cinema retomado os adotou. A literatura sempre o fez, de modos
diversos.
Saio
de 1995 através de duas obras lidas em sequência: O matador, de Patrícia Melo, e A
última quimera, de Ana Miranda. São duas escritoras em atividade, que
tiveram seus nomes reconhecidos através de obras importantes, vencedoras de
prêmios, e que obtiveram reconhecimento naquela década. Patrícia Melo era um
rosto conhecido dos programas de entrevista, em que ela aparecia falando de
livros, ou de roteiros de filmes. Não dava para levar muito a sério, e na época
a impressão era de que fosse mais uma escritora encaixada num programa para
vender seu produto. Já Ana Miranda não geraria esse tipo de celeuma. Seus
livros ganham prêmios, são adotados por vestibulares, mas ela vive numa praia
no Ceará. Eles raramente passam de uma primeira edição, mesmo sendo conhecidos até
no exterior.
A
primeira representa exatamente a estética da favela, do crime, dos
marginalizados. Influenciada por Ruben Fonseca, de quem adaptou livro para o
cinema, teve um de seus livros adaptado por ele. Justamente O matador, que no cinema virou O homem do ano. A autora cruel, que nos
coloca diante de matadores de aluguel, que escreve numa linguagem crua, que
mimetiza o falar das ruas, com suas gírias e palavrões, é vista por alguns como
um mau exemplo. Não há livros dela nas seleções do MEC para as escolas
públicas. O medo do choque com a realidade.
Já
a segunda é uma escritora canonizada nos meios escolares. As pessoas ainda
acreditam que os romances que ela escreve a partir de escritores como Gregório
de Matos, em Boca do Inferno, Clarice
Lispector, em Clarice, ou Augusto dos
Anjos, em A última quimera, são
biografias lineares, que façam as vezes de livro didático. Certamente não os
leram, mas pensam que a escritora é didática, acadêmica. Ingenuidade, visão
claustrofóbica da literatura. E Ana Miranda é cuidadosa ao pesquisar sobre seus
inspiradores, chega a colocar bibliografias ao final dos livros. Seus romances
resultam em narrativas complexas, de quem assimilou recursos de grandes
modernistas.
Em
O matador, Melo nos coloca diante dos rapazes bêbados, que mastigam de boca
aberta, das periguetes que trocam uma noite (a autora jamais diria de “amor”,
pois na sua obra os personagens “fodem”) por um pouco de cocaína, dos policiais
que ajudam o assassino bem quisto para que todos no bairro se livrem do
trombadinha incômodo. Em A última quimera,
Miranda nos faz pensar em um passado em que senhoras passam suas tardes mexendo
geleias diante do tacho, ou bordando enxovais para o bebê, tudo em cores que
sirvam para os dois sexos. Existem sobrados com porões para se guardarem poemas.
Os poetas duelam para salvar sua honra. E pessoas morrem de doenças como
tuberculose ou asma. Sua linguagem mimetiza a de um poeta de 1914, alguém que
lamenta a morte do amigo que não conseguiu o reconhecimento.
No
entanto, saio das duas obras com a sensação de que as duas escritoras
compartilham ideais estéticos muito semelhantes. Será apenas coincidência, ou
mais um daqueles sintomas de saturação de que os teóricos da pós-modernidade
costumam falar? Elas escrevem na mesma época, talvez nem saibam da existência
da outra, mas as obras se parecem na estrutura. São partes, nas quais se
inserem capítulos curtos. Miranda dá nome a essas partes e capítulos. Curtos,
quase machadianos. Quase como se as partes fossem os atos e os capítulos, as
cenas de uma peça. Melo prefere o silêncio dos números, mas os capítulos são
curtos, diretos, o livro é magro. A concentração de ações é grande; um
roteirista não conseguiria colocar tudo em duas horas de filme.
As
duas preferem a brevidade em estruturas que lembram os romances do século XIX. E
esta é conseguida, sobretudo, pelo modo como assumem aquilo que tantas teorias
do século XX chamaram de “polifonia”. São escritoras polifônicas. As
personagens falam, brigam, conversam, de maneira que essas falas ocupem os
corpos dos romances. No século XX, tantos teóricos deram nomes diversos a esses
modos de inserir os discursos no texto. Bakhtin estudou a polifonia em Dickens,
em Dostoiévski. Maingueneau criou toda uma grade de modos de citar o discurso
do outro dentro da fala de um narrador. Authier-Revuz criou a teoria das heterogeneidades,
que podem ser mostradas pelo autor ou não. Parece sempre que todos esses
teóricos leram a grande literatura chamada de moderna. Leram e montaram modelos
estruturalistas. O discurso relatado, de Maingueneau, exige marcas, como aspas
e travessões. Ou verbos dicendi.
Authier-Revuz também parece olhar demais para travessões, aspas, marcas na
superfície dos textos que diferenciem as vozes do narrador e a de cada
personagem.
Mas
não se encontra nada disso em Melo ou em Miranda. As vozes estão todas lá. Já
não é preciso marcar na superfície as variações de vozes. Nada de travessões,
aspas, mudanças de parágrafos, itálicos. É possível ter as falas de mais de um
personagem em um único período, e o leitor vai perceber quem está falando pelo
seu repertório de discursos, de possibilidades narrativas, sua memória do
cinema e da televisão, e não mais de marcas que tornem essas vozes “relatadas”
ou “marcadas”, como diriam teóricos.
Esses
modos de construir narrativas com vozes que se alternam garante agilidade aos
textos. Eles podem ser curtos, fragmentários, que o leitor vai sentir um efeito
de inserção no real peculiar às narrativas visuais, sobretudo o cinema. São
coincidências. Ou tendências da nossa narrativa contemporânea. O leitor frequente
as reconhece. O eventual acha confuso.
1995 pode servir de
pretexto para se falar sobre essa literatura de final de século, mesmo tendo
sido um ano de otimismo no país. Narrativas polifônicas, como queriam tantos
teóricos. Elas já não podem ser encaixadas em teorias que buscam classificar as
possibilidades de uso de discursos. Deram liberdade ao uso das vozes. É como se
aquilo que um dia foi chamado de “fluxo da consciência” e visto como uma
revolução no modo de inserir o discurso interior, subjetivo, agora tivesse se
tornado um fluxo de vozes ininterruptas, sem a preocupação com elementos que
possam interrompê-lo.
* Edson Ribeiro é Professor
do Mestrado em Teoria Literária do Centro Universitário Campos de Andrade
(UNIANDRADE), em Curitiba.