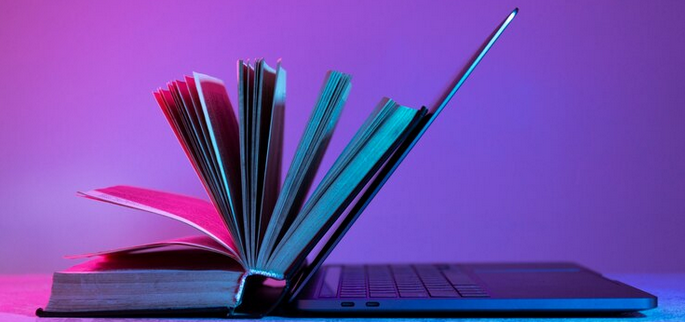Verônica Daniel Kobs*
A
peça Selfie, com direção de Marcos
Caruso e atuações de Mateus Solano e Miguel Thiré, foi apresentada na edição
2015 do Festival de Teatro de Curitiba. O espetáculo conta a história de
Cláudio (Mateus Solano), que decide parar de usar qualquer tipo de rede social
ou aplicativo e migrar para um sistema único, encarregado de armazenar todas as
informações relativas ao usuário. Porém, um dano irreparável provoca a perda de
todos os dados, que deixam de existir não apenas no novo sistema, mas também
nos outros ambientes virtuais. A partir desse momento, Cláudio não existe mais.
Ele foi simplesmente deletado da rede e, na sociedade de hoje, sabe-se que o
fato de ser excluído do ambiente virtual equivale praticamente a não existir no
mundo real.
Confiando cegamente na
eficácia do novo sistema, Cláudio perde informações importantes e precisa
recuperar inúmeros dados (números de telefone, fotos, e-mails, lembranças...),
para ter sua vida de volta. O prejuízo é grande, pois, contemporaneamente, criou-se
uma espécie de intermediário para acessar informações pessoais: “‘A informação
escaneada, que no mundo analógico poderia ser acessada apenas pelo uso de
nossos olhos, de repente é armazenada em um ambiente onde só pode ser
recuperada pelo uso da tecnologia (...)’” (SALERNO, 2015, p. 55). Além disso,
segundo a autora, que usou como base dados da Academia da Arte das Imagens em
Movimento, Ciência e Tecnologia de Hollywood: “‘O buraco negro digital
aprisiona o projeto. (...). Se o recurso começar a definhar, a informação
poderá ainda ser recuperada, mas, depois de um tempo, ela não estará mais
acessível devido a arquivos corrompidos, a formatos ou tecnologias obsoletos’”
(SALERNO, 2015, p. 55).
O projeto de Selfie
é audacioso. O tema é atual e vai contra hábitos vigentes da sociedade, fazendo
uma espécie de conclamação ao modo de vida do passado. Com a mesma
irreverência, o espetáculo opta também por uma estrutura bastante particular: o
cenário é simples e vazio; o figurino resume-se a um macacão azul; os
personagens que contracenam com Cláudio, quando aparecem, são todos
representados por Miguel Thiré; não são usados adereços de cena (com exceção de
uma cadeira/pufe e do próprio celular); e tanto os sons como os objetos são sugeridos
por onomatopeias e gestos, respectivamente. Nesse contexto, o público,
auxiliado pelos gestos dos personagens, é levado a imaginar quase tudo: a ação
de jogar coisas em uma pia de cozinha, por exemplo; o café que é derrubado
sobre o computador de Cláudio; e até o computador em que o protagonista
trabalha. Essas características da peça são particularmente interessantes,
porque se assemelham a sistemas de simulação interativa, que “dão ao usuário a
sensação de estar em ‘interação pessoal e imediata com a situação simulada’
(LÉVY, 1999, p. 66-67)” (RÉGIS, 2012, p. 183), ou de simulação por imersão.
Outra similaridade se dá pela ausência de um cenário típico e de objetos na
peça, já que: “Os sistemas de realidade virtual estabelecem relações de fraca percepção
física, espacial e temporal” (RÉGIS, 2012, p. 183).

A partir de gestos, o elenco de Selfie convida o público a imaginar os adereços das cenas
Selfie,
ao debater a (in)existência de Cláudio no mundo virtual (e também no mundo
real), se aproxima de produtos culturais que recentemente enfocaram as mesmas
questões, a exemplo de: Ela (EUA,
2013), filme dirigido por Spike Jonze, estrelado por Joaquin Phoenix, que conta
a história de Theodore, que se apaixona por Samantha, um sistema operacional
(“OS1”); e Homens, mulheres e filhos (EUA,
2014), filme de Jason Reitman, com Jennifer Garner no papel principal, que trata
da influência da tecnologia na vida das pessoas. De fato, o computador e a
internet, na contemporaneidade, reconfiguraram as relações sociais. Aliás, para
Fatima Régis, a questão chega a ser bem mais complexa: “As novas tecnologias
permitem novos modos de experiência, fazendo repensar o próprio conceito de
humano” (RÉGIS, 2012, p. 184).
Para demonstrar isso, Selfie apresenta e critica os novos
hábitos de nossa sociedade, que comodamente relega à máquina a responsabilidade
por guardar momentos felizes, datas importantes, compromissos, etc. Nas
relações cotidianas, vários momentos da peça refletem situações bem desagradáveis:
a mãe (Miguel Thiré) constata a magreza do filho Cláudio pela foto que tira
dele, enquanto o recebe, sem dar muita atenção ao que ele diz, em meio a
curtidas, minivídeos caseiros e outros posts
nas redes sociais (e ela vê a foto antes mesmo de ver o filho nos olhos,
pessoalmente); a namorada (Miguel Thiré) diz a Cláudio que rompeu o namoro
porque ele tinha sumido das redes sociais por 5 horas, sem dar nenhuma
satisfação; e o próprio protagonista é flagrado utilizando dois computadores ao
mesmo tempo, com várias janelas abertas, em grupos de redes sociais distintas e
ainda falando ao celular, com uma chamada em espera. De modos distintos, todas
essas cenas tratam do fator tempo, da simultaneidade, da urgência e da
instantaneidade, temas que são uma espécie de cartão de visitas de nossa época.
Ítalo Calvino já escrevia sobre isso, no final de 1990, quando afirmou que, no
próximo século, “outros media
triunfariam” e que, “dotados de uma velocidade espantosa e de um raio de ação
extremamente extenso” arriscariam “reduzir toda a comunicação a uma crosta
uniforme e homogênea” (CALVINO, 1998, p. 58). Hoje, Zygmunt Bauman confirma a
hipótese de seu antecessor, ao mencionar algumas ações muito próprias de nosso
tempo: “(...) encurtar o espaço de tempo da durabilidade, (...) esquecer o
‘longo prazo’, (...) enfocar a manipulação da transitoriedade (...), dispor
levemente das coisas para abrir espaço a outras igualmente transitórias e que
deverão ser utilizadas instantaneamente” (BAUMAN, 2001, p. 146, ênfase no
original).
Entretanto, em Selfie, não é apenas o tempo que condiciona as ações dos personagens.
Relacionado a ele está a tecnologia, que fornece os recursos e os aparelhos que
privilegiam a rapidez e o imediatismo. Sobre isso, a peça também debate a
questão da indústria, afinal, os produtos necessitam de peças e acessórios,
abrangendo vários ramos dos mercados de informática e telefonia,
principalmente, incluindo fabricantes, revendedores, etc. Desse modo, um ciclo
vicioso se estabelece: a sociedade atual se caracteriza pela rapidez, o mercado
atende essa demanda e o consumidor obedece, simultaneamente, a dois comandos: do
modismo e da oferta. Bauman inverte essa associação, afirmando que a sociedade
“foi remodelada à semelhança do mercado” (BAUMAN, 2008, p. 76). Em outras
palavras, o mercado dita as regras, a sociedade “compra a ideia” e cada
consumidor trata de se adaptar à nova tendência, iniciando um processo de
“afiliação” (BAUMAN, 2008, p. 71): “A ‘sociedade de consumidores’, em outras
palavras, representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a
escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e
rejeita todas as opções culturais alternativas” (BAUMAN, 2008, p. 71). E é
exatamente assim que a história de Selfie
termina...
Durante a peça, Cláudio
vai, gradativamente, se deparando com velhos hábitos. Primeiro, um amigo
relembra a época em que todos sabiam os números de telefone dos outros de
cabeça. Depois, o protagonista é surpreendido por um menino desconhecido que
lhe pede ajuda com uma pipa. Cláudio resiste, mas nesse instante a peça opõe
duas realidades, representadas pelos símbolos antagônicos da pipa e do celular.
O garoto insiste, Cláudio se vê naquela criança e acaba percebendo que o
convite vai muito além de empinar pipa. Aceitando aquele chamado, o personagem
pode reviver a infância, entrar em outro ritmo de tempo, mais frouxo e
descompromissado; pode ser livre e experimentar novamente a sensação de brincar
ao ar livre, ultrapassando as fronteiras dos espaços fechados, da solidão
reclusa ou da alienação absoluta que a tecnologia impõe, mesmo quando se está
ao ar livre, em meio a uma multidão.
Por esses motivos, o
protagonista diz “sim” ao menino. A partir daí, ele percebe a necessidade de
mudar seus hábitos e tenta estabelecer um novo modo de vida, desvinculando-se,
ao menos um pouco, do império tecnológico. Porém, nesse instante, Cláudio
encontra um idoso, amigo dele, que atualmente está superconectado. Baseando-se
em sua experiência, o rapaz tenta alertá-lo sobre as desvantagens do uso
desenfreado da tecnologia, mas o idoso não se convence e propõe que eles façam
uma selfie para registrar o
reencontro. Cláudio também não desiste e tenta dissuadir o amigo da ideia, sugerindo
que eles apenas guardem aquele momento na memória. A reação é imediata e
negativa, pois o senhor responde, em tom repreensivo: “Memória? Eu já tenho 94
anos! Vamos fazer uma selfie mesmo!”
(SELFIE, 2015). O final é pessimista e nos remete às afirmações de Bauman sobre
a sociedade do consumo. Cláudio é o único a perceber a tecnologia como causa de
aprisionamento e alienação e, mesmo assim, a conclusão dele resultou de um
processo lento, desencadeado pela insistência do garoto. Isso significa que a
maioria das pessoas, hoje, compartilha quase tudo: fotos, vídeos, piadas, mas
ainda não compartilha a ideia de que há um novo estilo de vida, com velhos
hábitos, mais liberdade e também com mais tempo. Será que daqui a algum tempo
alguém vai curtir isso? Afinal, todos nós somos responsáveis pelo futuro. Não
nos conscientizamos disso, mas a cada momento estamos fazendo nossa história e
podemos decidir o final que teremos: “A narrativa sobre a aventura da
humanidade não está concluída. Nós escreveremos seus próximos capítulos. Cabe a
nós decidir se seremos zumbis, robocops ou
qualquer devir-outro que desejarmos. Como diz o menino Hogart para o robô em O gigante de ferro (1999): Você é o que escolhe ser” (RÉGIS, 2012,
p. 207).
Referências:
BAUMAN,
Z. Modernidade líquida. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
_____. Vida para consumo. A transformação das
pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
CALVINO,
I. Seis propostas para o próximo milênio.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
RÉGIS,
F. Nós, ciborgues: tecnologias de
informação e subjetividade homem-máquina. Curitiba: Champagnat, 2012.
SALERNO,
A. Ciber limbo. Revista da Cultura,
edição 93, abril de 2015, São Paulo, p. 55-57.
SELFIE.
Direção de Marcos Caruso. Curitiba: abr. 2015.
*
Professora das disciplinas de Imagem e
Literatura e Literatura e Estudos
Culturais no Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade. Professora de Língua Portuguesa e Dramaturgia no Curso de Graduação de Letras da FAE.